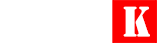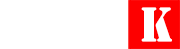Rio de Janeiro - Já aqui vos disse que, sempre que viajo para o estrangeiro por uma companhia área nacional de um certo país da África Ocidental de que sou cidadão, não sei se por malapata, vivo inevitavelmente algum problema. Tal voltou a acontecer nesta minha vinda ao Rio de Janeiro, terça-feira última.
Fonte: SA
 Por norma, sempre que há alguma outra alternativa, evito viajar por ela, como acontece na linha Luanda-Windhoek, em que o faço preferencialmente pela Air Namíbia. Não me venham cá com conversas de antipatriotismo, coisas e tal, porque não é nada disso, mas apenas uma forma de evitar dissabores. Desta vez, até não foi grande coisa, mas sempre deu para reforçar as razões do meu afastamento.
Por norma, sempre que há alguma outra alternativa, evito viajar por ela, como acontece na linha Luanda-Windhoek, em que o faço preferencialmente pela Air Namíbia. Não me venham cá com conversas de antipatriotismo, coisas e tal, porque não é nada disso, mas apenas uma forma de evitar dissabores. Desta vez, até não foi grande coisa, mas sempre deu para reforçar as razões do meu afastamento.
Contudo, deixemos isto para mais adiante, pois quero começar com outra coisa. É assim: agora o cidadão comum, como eu, que quiser evitar chatices na altura de se fazer o check-in no aeroporto internacional de Luanda, tem apenas de largar algum «tutu» para beneficiar até de tratamento protocolar. Paga-se um mínimo de dois mil kuanzas para que quase todas as barreiras se abram como num passe de mágica. Quase todas, porque há um senão: uma senhora simpática, assim rechonchuda, que fica a ordenar as entradas para a parte final do processo, pode lixar tudo, se calhar no turno dela, quando enveredar por este esquema anormalmente normal, como diria o Kajim. «Senhor, passe!», diz ela quando lhe apetece dar um jeito. «Senhor, não passe!», avisa ela, quando não lhe apetece dar a folga. Num misto de seriedade com brincadeira, ela protagoniza um verdadeiro espectáculo. Gosto.
Pois, como ia dizendo, passei a fronteira, tomei o pequeno-almoço «através» da comida de plástico do restaurante da sala de embarque, fui ao free-shop ver se tinha cigarros nacionais, só havia o «Angola Combatente», marca que troquei pelo SL, que não havia. Perdão, havia no bar, a 500 paus o maço. Comprei quatro. Como estou a fumar pouco, na altura em que vos escrevia estas modestas linhas (tarde de quinta-feira aqui no Rio de Janeiro, já noitinha por aí) ainda estava com três deles. Estou a sair bem.
Entro pro avião, tudo na normalidade, perdão, tudo na anormalidade (à excepção do horário, que estava nos trinques), uma vez que era um vazio enorme lá dentro. Eram pouquíssimas pessoas para uma aeronave daquela envergadura, um dos Boeing’s 777-200 que fazem o estilo da companhia, e para uma viagem de longa distância. Um desperdício. Que se pode evitar se diminuírem as frequências, algo que me parece mais rentável para a companhia do que a insistência em viagens com aviões a sobrarem escandalosamente de espaço.
Talvez seja do aumento das dificuldades para se conseguir um visto para o Brasil a partir de Luanda, disse alguém. Sinceramente, digo eu, não compreendo por que razão se exige algum endereço para quem venha p’ra aqui a turismo, além da prova de que se tem dinheiro. Imaginemos que alguém, tipo aventura, queira conhecer o país. Como é que vai apresentar já endereços se não conhece nenhum? Alguém diz na conversa que é por retaliação, porque temos estado a fazer o mesmo. Será? Não sei. Só sei que nas relações inter-estados o princípio da reciprocidade é sagrado. Ora, como me parece que não há animosidade oficial entre nós, o melhor seria as autoridades dos dois países reverem isto, em busca de uma solução «reciprocamente vantajosa», se é que há mesmo algum problema no que toca à concessão «recíproca» de vistos.
Já no avião, instantes antes da descolagem, uma hospedeira pede-me que lhe entregue a minha pasta onde porto o computador e alguns documentos pessoais. Refuto, alertando-a de que era a pasta do computador, que coloco normalmente debaixo da cadeira da frente. Ela insiste e eu não resisto. Entrego-a com a maior das canduras. Mas, a hospedeira, muito malcriadamente, abre a bagageira e atira a pasta com o meu computador como se ele não tivesse família. Fituco seriamente com ela, avisando-a de que pagaria o sensível equipamento se tivesse ocorrido algum dano. Disparatei a família dela dentro de mim e me dei razão: evitar essa companhia sempre que possível, o povo que me perdoe. Porra, nem no tempo das «aerovelhas» rabugentas passara por algo similar.
Parecia um mau sinal. Não tenho medo das alturas, mas confesso que abomino os voos Luanda-Rio de Janeiro e vice-versa, por decorrerem todos eles sobre mar demais para o meu gosto. Porém, como não há outro remédio, lá ia eu novamente. À medida que o tempo foi passando, a minha raiva contra a hospedeira malcriada também se foi desvanecendo, até que fiquei mais calmo, a curtir a viagem, quer dizer, sempre com aquela cagunfazita das águas a mais. No entanto, ainda deu para assinalar a presença da nacional «Lactiangol» na travessa do pitéu, com um daqueles quadradinhos de manteiga, no meio de todos os outros produtos «made in estranja», que podiam ser menos se a nossa indústria estivesse mais avançada. Desconfio que entre esses há coisas de plástico que já deviam ser «Feito em Angola».
Quando aterramos, é que podiam ser elas. Pouca gente se terá apercebido, mas o avião deu uma guinada já no solo, provavelmente por algum desenquadramento com a pista, os especialistas em aviação que me socorram. Felizmente, nada por aí além aconteceria e lá desembarcamos. Aiué coração.
Bom, espalhei-me tanto que quase me esquecia da cena que dá sustentação ao título. É assim: dada a natureza da nossa profissão, precisamos tanto das telecomunicações como o peixe da água. E a primeira coisa a fazer nestes tempos modernos é adquirir um chip para o «telelé». E isto estava dificílimo, em face da proibição da sua venda que atingiu algumas operadoras brasileiras, em vigor desde a véspera da minha chegada, como vos dou conta numa outra página deste jornal.
Vou a lojas da Tim, que é a operadora de que sempre me socorri normalmente, e nada. Na Ói, idem. Até que me indicam as Lojas Americanas, onde consigo um chip da Vivo. Já descansadinho da vida, pensei que resolvera o assunto, mas estava completamente enganado. É que para se accionar verdadeiramente o número dessa operadora, é preciso um tal de CPF, uma espécie do nosso cartão de contribuinte, que, como é logico, eu não podia ter. Isto resolve-se amanhã, na própria operadora, pensei cá comigo.
No dia seguinte, ainda sem saber dos pormenores da proibição, vou a uma loja dessa operadora no Rio Sul para tentar resolver o assunto e recebo a confirmação: sem o CPF, não havia hipóteses. Entro em «pânico». Sem chip, estava lixado, pois comunicar-me com Luanda a partir do telefone do hotel era financeiramente inviável e menos prático. Por instantes, pensei que o Brasil havia recuado uns 50 anos para os estrangeiros em matéria de telemóveis ou assim. E é imbuído dessa sensação e já pronto para «disparar» que, ao caminhar desiludido rumo à saída do shopping onde me encontrava, deparo-me com uma loja da Claro, na qual, para felicidade minha, consigo o bendito e desejado chip sem qualquer restrição. A sorte é que a provedora não estava abrangida pela proibição no Rio de Janeiro. Em face disso, não me restava outra alternativa, senão a de dar-lhe um «viva!» bem sincero.
Ainda assim, parcialmente, porquanto, nesta quinta-feira, quando lá pretendia comprar um «modem» para a internet, em face do hotel ter estado sem rede, não o consegui, porque o serviço não está aberto a estrangeiros. Para falar verdade, acabei por não compreender: chip sim, modem não.