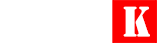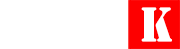Luanda – À frente da Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral (CASA-CE), desde a criação dessa que se tornou na terceira força política entre nós, está a completar agora três anos de existência, Abel Epalanga Chivukuvuku é um dos mais destacados políticos do país.
N. Talapaxi. S
Fonte: SA Uma vez presidenciável, depois de ter sido o terceiro homem mais votado no pleito eleitoral que ditou quem iria dirigir o destino da nação angolana, em Agosto de 2012, que seria vencido por José Eduardo dos Santos e o seu MPLA, o líder da «CASA» concedeu essa entrevista ao Semanário Angolense, na ressaca do 3.º aniversário da coligação, celebrado a 3 de Abril.
Uma vez presidenciável, depois de ter sido o terceiro homem mais votado no pleito eleitoral que ditou quem iria dirigir o destino da nação angolana, em Agosto de 2012, que seria vencido por José Eduardo dos Santos e o seu MPLA, o líder da «CASA» concedeu essa entrevista ao Semanário Angolense, na ressaca do 3.º aniversário da coligação, celebrado a 3 de Abril.
Carismático e expressivo, além de optimista quanto à «cartada» que espera vir a dar nas eleições de 2017, o antigo quadro do Galo Negro, que tem descendência monárquica ligada aos reis do Bailundo, falou sobretudo da necessidade de se promover uma gama de reformas na nossa sociedade, mormente políticas, considerando que o actual modelo trava o desenvolvimento do país, na medida em que aumenta o abismo entre pobres e ricos.
Ele garante taxativamente que, se o processo eleitoral for organizado de forma séria e se desenrolar com justeza, o MPLA não terá qualquer hipótese de ganhar o pleito de 2017.
Semanário Angolense (SA) – A sua convicção sempre deixou em «alto relevo» que a CASA-CE representa a «visão alternativa», enquanto força política. É isso?
Abel Chivukuvuku (AC) - Pressupõe a definição do quê que queremos do nosso país. Que tipo de país queremos construir. E encontrar modelos que não sejam só a nossa visão. Partilhar com o resto dos segmentos do país para termos uma visão do que queremos. Mas, em função disso, precisamos igualmente de ter uma visão e avaliação realista, para que seja feita também uma programação realista, que possa ser implementada com rigor e depois fiscalizada. Isso é um modelo. Mas há também outros modelos. São para se ajustar em função da realidade de cada país.
SA – Depois que se tornar partido, como já se prevê, a CASA visa alguma coligação para as eleições?
AC – Somos uma coligação em vias de trans¬formação. Para as eleições de 2017, nós não defendemos o princípio de coligação pré-eleitoral. Cada partido que vá independente às eleições. Espero que cada um procure crescer, avaliado os resultados. Depois das eleições, é quando nós podemos considerar - se permitir fazermos a governação - coligações pós-eleitorais. Já sabemos o peso de cada entidade e que juntos podemos ultrapassar o MPLA, então podemos fazer isso. Mas neste momento a nossa filosofia como CASA é crescermos e guindarmos à estatura de agente fundamental. Estamos a crescer extraordinariamente e neste momento podemos dizer que, se conseguirmos processos políticos sérios, justos e credíveis, não há hipótese para o MPLA ganhar as eleições.
SA – Dispensando coligações pré-eleitorais, acredita que a CASA possa ter força suficiente para enfrentar o partido no poder?
AC – Estamos a construir isso. Em 2012, em apenas quatro meses do nosso surgimento, mesmo num ambiente político questionável, conseguimos o terceiro lugar. Naquela altura, nós estávamos só nas cidades. Não chegávamos às comunas. Mas, neste momento, estamos já representados em todo o país. E por todo o lado, a CASA é a novidade como resultado da nossa capacidade de inovação.
SA – Como é que se expressa essa «inovação»?
AC - Nós não fazemos as coisas normais que esses partidos fazem. O MPLA quando tem um acto, fecham as escolas, fecham tudo. «Tudo» é obrigado a ir para lá. É coagido: o professor que não foi, leva falta; as mamas que não foram, perdem a banca (da praça). Outros partidos têm a estratégia de congregar. Vão fazer um acto num determinado sítio levam pessoas de vários lugares e depois juntam alí para mostrar força. Nós, não. Nós preferimos ter noção da nossa re¬alidade – onde é que somos fortes e onde é que somos fracos. E quando vamos é mesmo só com as pessoas dalí. Não demos transporte a nin-guém. Quem quiser vir, vem. E eles aparecem. Isso permite fazer leituras.
SA – E onde é que vocês são fortes e onde é que são fracos?
AC – Não! Isso aí já é estratégico. Não pode ser dito assim. O nosso programa «Quinze Quinze» - 15 dias em Luanda e 15 dias em alguma província - está estruturado de forma a terminar neste ano, e termos o balanço e o levantamento. Saberemos onde é que somos fortes (e nessa altura o que temos que fazer) e onde é que somos fracos. Haverá com certeza alguns sítios que vamos esquecer; se somos fracos não vale a pena gastar tempo e recursos ali. Vamos investir lá onde podemos recuperar. Portanto, há todo um quadro de uma estratégia bem definida.
«Não farei mais do que dois mandatos na Presidência»
SA – Que avaliação faz da vossa aceitação, em três anos de existência?
AC - Não tenho dúvida de que a CASA-CE é a força querida pela juventude. Eu tenho noção de que precisamos fazer um esforço no segmento feminino adulto e precisamos transmitir confiança no segmento adulto funcionalizado. Têm vontade, mas precisamos transmitir mais confiança, no sentido de entenderem que a mudança não é em relação às pessoas. É em relação às práticas. Aqueles que são funcionários hoje, serão funcionários amanhã. Não muda nada. O que muda são as práticas. São esses indicadores que nós precisamos transmitir.
SA – Mais ou menos, quantos militantes tem actualmente a CASA?
AC – A nossa militância no país, neste momento, está quase a atingir um milhão. Membros com cartões.
SA – E como estão no exterior?
AC - Hoje, a CASA no exterior está em quase todos os países onde há comunidade angolana. Pelo menos estamos em 18 de forma estruturada. Entretanto, surgiram núcleos
autónomos, três ou quatro, que ainda não estão estruturados (na Rússia, na República Checa).
SA – Em que países vocês estão mais fortes?
AC – Nós dominamos em Portugal, França, Espanha, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Noruega, Suécia, Suíça e Polónia. Estamos mais ou menos nos Estados Unidos, com algumas dificuldades, porque a maioria ali são bolseiros. Estamos bem no Canadá, bem no Brasil, África do Sul. Estamos a começar agora na Namíbia, onde já temos estrutura, mas precisamos crescer. Também na Zâmbia e na República Democrática do Congo. Estamos em todos esses países de forma estrutural. Em alguns mais fortes do que em outros.
SA – Qual é perspectiva de massa militante ao fim das cruzadas «Quinze-Quinze»?
AC – Dois milhões e meio de militantes até o fim de 2016. Esse é o objectivo. Fazemos periodicamente campanhas de recrutamento de novos membros e que têm surtido efeito bastante positivo.
SA – No próximo ano com o vosso II Congresso e com a CASA transformada em partido, terão novas eleições para a liderança. Está preparado para eventualmente não ser escolhido como presidente e líder da CASA, já como partido?
AC – O processo de transformação vai ser anterior ao II Congresso ordinário. Terminamos a primeira fase, que são os congressos dos partidos constituintes da coligação. Já remeteram a documentação no Tribunal e o Tribunal já fez a anotação. Tive um encontro com o presidente do Tribunal Constitucional, que foi para trocar impressões sobre os procedimentos próximos que nós vamos desenvolver. E pensamos ainda este ano resolver a parte legal da transformação CASA em partido para que no próximo ano tudo que vamos fazer seja a formalização política em congresso. Obviamente, somos uma força política democrática. Isso pressupõe que todos que quiserem ser candidatos vão ser candidatos, de acordo com as normas dos estatutos. Eu vou ser candidato à liderança da CASA em 2016. E se em 2017 tivermos uma boa prestação e ao sermos governo a nossa ideia é que quem ficar governante deve evitar cargos partidários, directos e executivos, para não confundir os papéis.
SA - A sua continuidade não poderá levantar questionamentos em relação à democracia no contexto da alternância?
AC – Não. Nós vamos cumprir as nossas regras. E as nossas regras indicam, neste momento, que o líder da CASA só pode ter dois mandatos. Portanto, é isso que nós vamos cumprir: só dois mandatos. Não mais do que dois.
SA – Teve um certo destaque no encontro do Conselho da República. Que resultados espera?
AC - Primeiro há que referir que eu tenho muita dúvida quanto à relevância do Conselho da República. Muita dúvida! Sobre o papel que ele desempenha neste país. Até um exemplo é que o Presidente prescindiu de institucionalizá-lo durante dois anos. E a maneira como as discussões ocorreram faz-me também ter dúvida, se alguma coisa daquilo que sai das reuniões é levada a sério. Tenho mais impressão que é um órgão para dar apenas o quadro estruturado na Constituição, e não necessariamente para jogar o seu papel. É por isso que defendo fundamentalmente reformas. O nosso país precisa de muitas reformas.
«Duvido que o partido governante consiga ser iniciador de reformas»
SA – Disse que o país precisa de muitas reformas. De que reformas?
AC – Eu entendo que até aqui o que tem imperado é ser esperto. Tem imperado a manipulação das posições para aproveitamento próprio. É servir-se e não servir o Estado. Uma sociedade tem que adoptar valores e princípios que dignifiquem a sua estruturação: família, trabalho, honestidade, solidariedade. Haverá sempre os factores negativos. Mas a sociedade, como tem bases, consegue estancar isso. A primeira reforma é a de valores e princípios. Essas campanhas que, muitas vezes, o MPLA faz, são hipocrisia. Porque os mesmos actores que fazem esses discursos, quando em posições de governação, agem pela esperteza, pelo aproveitamento.
SA – Como pensa que deverão acontecer essas reformas?
AC – Há quatro maneiras das reformas acontecem nas sociedades. As reformas podem ser dinamizadas pelos actores no poder, desde que eles entendam qual é a ansiedade do cidadão, a sua expectativa, e percebam que a melhor fórmula é antecipar-se e serem eles a fazer essas reformas. Quando houve as revoluções do Magreb, no Norte da África, em Marrocos, o rei apercebeu-se do que estava a acontecer e, em vez de esperar a revolução chegar, antecipou-se. O próprio regime é que fez as transformações, tendo entendido a expectativa do cidadão.
SA – E no caso de Angola?
AC – Eu tenho dúvida que o regime do MPLA consiga ser iniciador de reformas. Porque no fundo nunca foram iniciadores. São experimentalistas.
SA – Assim sendo, está a relegar para a oposição a única possibilidade da execução dessas reformas?
AC – A mudança pode vir dos partidos da oposição.
SA – E acha que temos uma oposição suficiente para isso?
AC – Cabe aos partidos da oposição guindarem-se a esse nível de expectativa. Neste momento, por exemplo, temos a questão da alternância que aconteceu na Nigéria, que é «muito bom». Agora vamos ver se os novos poderes têm visão para fazer as reformas que a Nigéria precisa.
SA – Mas falou de quatro maneiras em que as transformações em Angola podem acontecer.
AC - Seria o terceiro modelo de dinamização, que é por via da sociedade civil. A sociedade civil é que força até o surgimento de actos para a governação. Foi assim na Tunísia, foi assim no Burkina Faso.
SA – Mas quando a sociedade civil e, por extensão, o povo, é o protagonista da transformação, esse acto revolucionário não costuma ser violento?
AC – Nem sempre é violento. Tivemos o exemplo da Tunísia. Foi o povo que forçou a mudança e o povo mais ou menos estabeleceu quais eram as reformas que queria. E depois vieram os actores políticos, assumiram as reformas que o povo queria. A violência na vida política não é desejável. Para nós seria desejável um dos três modelos: ou o regime assume e faz as mudanças – não acredito! Ou a oposição guinda-se à estatura e é ela a fazer essas reformas, por via pacífica, ordeira e positiva. Ou a sociedade exige e depois há mudanças e reformas.
«Há legislações montadas para dificultar a oposição»
SA – Diante das discussões em torno da Lei do Registo Eleitoral, o que tem a dizer?
AC - Havia coisas na Lei do Registo que não eram positivas: porquê que vamos discriminar os angolanos no exterior? Queremos uns, mas não queremos outros. São todos angolanos ou não são? Felizmente, nesse campo, parece – vamos ver! – que o MPLA está a flexibilizar a sua posição. Porquê que não é o órgão que faz as eleições a executar todo o processo de registo? O banco de dados do sistema de identificação está com o Ministério da Justiça. Deve encontrar-se um mecanis¬mo científico em que praticamente todos os dados referentes ao processo eleitoral sejam imediatamente transferidos para o banco de dados do Conselho Nacional Eleitoral. Que não seja o governo, o Ministério da Justiça ou o Ministério da Administração do Território, a fazer tudo.
SA – E acredita na funcionalidade do banco de dados, ou também tem dúvida?
AC - O banco de dados, cientificamente, pode ser funcional desde que os actores permitam. Epa! O Banco de dados é do Ministério da Justiça e assim que transmitir os dados ao CNE os outros actores sempre que quiserem que possam auditar, para veri¬ficar a fiabilidade. Há outras leis que vamos precisar também de avaliar. Primeiro, a própria lei sobre o CNE é independente ou não. Por outro lado, a com¬posição como é que fica, as prerrogativas e competências como é que ficam, etc..
SA – Avaliando esses aspectos, tem como dar já condições, para que haja mudanças em 2017?
AC – São condicionantes. Nós temos que ver todo o quadro legal e há leis que temos que rever. Por exemplo, os prazos. Define-se que a assistência financeira para as campanhas eleitorais é dada depois do tribunal fazer a aprovação das candidaturas, etc. Isso acontece um ou dois meses antes das eleições. Como é que os partidos políticos vão poder fazer os materiais de propaganda? As eleições têm de ser convocadas com alguma antecedência para que seja possível o tornar legal todo o processo, ser cumprido junto do Tribunal Constitucional, e as candidaturas aprovadas, os recursos entregues a tempo para as pessoas fazerem o trabalho. Há uma série de legislações que foram mesmo montadas para ser tudo na última da hora, na perspectiva dos actores da oposição terem dificulda-des. Isto tudo precisa de ser revisto.
SA – Falou em coligação da oposição para poder enfrentar o partido no poder nas próximas eleições. Com essa coligação não se prevê antecipar-se a essas ditas manobras?
AC – É por isso que estou a dizer que nós precisamos rever uma série de documentos legais, precisamos reavaliar o modelo do CNE, precisamos de discutir sobre o ambiente político nacional. Os actos das forças da oposição na TPA não passam. Como é que vamos ter democracia assim? Nessa questão da TPA nem que tenhamos que fazer vigílias ou fazer manifestações, vamos fazê-lo até que se abra.
SA – Isso visando já as próximas eleições?
AC – As próximas eleições, sim! Nós temos tido discussões com os dirigentes do MPLA, com o objectivo de ver como é que vamos fazer essa abertura de forma harmoniosa. Começamos ainda por exigir para que as sessões da Assembleia Nacional sejam transmitidas. Mas estamos a continuar esse nível de discussão para abrir os órgãos de comunicação social, ter uma administração pública apartidária, órgãos de defesa, ordem e segurança também apartidários. Há vezes que vou a municípios em que a administração proíbe as bombas de gasolina de vender combustível às pessoas da caravana da oposição. Fecham as pensões e os hotéis. Que administração pública é essa? Há muita coisa que precisa ser feita. Não vai ser fácil!
SA – Haverá a possibilidade de se reverter esse quadro visando as próximas eleições?
AC – Nós temos que acreditar que temos que lutar para fazermos isso. Parados é que não podemos ficar.
SA – Na sua ideia, pretende-se fazê-lo no âmbito de uma coligação?
AC – Com a nossa coligação nós temos procurado fazer um esforço muito grande por causa do programa «Quinze Quinze» - 15 dias em Luanda, 15 dias numa província. E nas províncias o programa chama-se «Ver, Ouvir e Partilhar». E a constatação que vamos fazendo é que o próprio MPLA precisa ser ajudado para ser libertado. O MPLA precisa de ser libertado. Porque aqueles administradores não têm noção de papel nenhum. É preciso ajudar-lhes para eles saberem o que é um administrador municipal, qual é o papel de um administrador municipal, em termos de permitir o espaço livre do cidadão e da actividade política, etc. E é esse exercício que nós precisamos fazer daqui até 2016.
Origens Nobres
SA - Qual é a história desse nome, Epalanga Chivukuvuku?
AC - Nós fazemos parte de uma das linhagens do reinado de Bailundo. O meu tetra-bisavó foi Chivukuvuku I, rei do Bailundo, nos anos mil-oitocentos-e-quarenta-e-tal. Depois, o meu bisavó foi o rei Chivukuvuku II, que foi o pai de Ekuikui II. Portanto, se alguém quiser, vai à montanha sagrada do Bailundo, adjacente à própria vila, estão lá os túmulos com todas as inscrições, quando é que começaram o reinado e quando é que terminaram. É dali de onde vem a família Chivukuvuku. Em termos de umbundu, Epalanga significa o assistente do rei. E Chivukuvuku, em termos linguísticos, tem varias interpretações, mas eu tive uma que me foi providenciada pelo actual provedor da Justiça, o dr. Paulo Chipilica, que segundo a avaliação, a pesquisa linguística, significa algo que voa muito alto. Mas tudo isso faz parte do quadro histórico do nosso país.
SA - Então, digamos que a política está no sangue, não é?
AC - É provável que, por sermos de uma linhagem real, a política esteja no sangue. Mas, no nosso caso, não fomos para a vida política por intenção. Foi o contexto histórico que nos levou para a vida política. A situação de 1974-75, todo aquele contexto. Agora, uma vez tendo estado na política, temos que assumí-la para podermos servir o nosso país.«Não sou ricaço, mas nunca passarei fome»
SA – Observa-se em África que as pessoas governam para enriquecer, ao contrário do que acontece no Ocidente de um modo geral.
AC – Eu tenho dito que nunca serei prisioneiro da política. O que significa que não preciso da política para viver. Pelo contrário, eu é que dou dos meus recursos à política.
SA – O senhor não é nenhum «pé rapado», não é?
AC – Não sou rico, mas nunca passarei fome.
SA – Pode assumir amanhã um cargo de governação que não deixe o cidadão desconfiado, a pensar que «aquele aí é outro que também só vai roubar»?
AC – Não, não, não! Isso nunca vai acontecer. Porque não serei prisioneira da política e não preciso fazer política para viver. Ao longo dos anos, felizmente, tive a sorte de estar ligado à gente forte. Há um di¬tado que diz: «Cuida dos fracos, mas junte-se aos fortes para seres forte». Fui tendo a sorte de estar ligado a cidadãos fortes, que me permitiram também criar uma base de vida que permite não esbanjar mas estar tranquilo na vida.
SA – Qual é ou quais são as suas fontes de renda?
AC – Eu tenho o rendimento dos meus investimentos. Tenho edifícios, apostei no sector imobiliário e, em certa medida, também no sector agropecuário, na província do Huambo. Se nós vamos para o governo para roubar, então deixa ficar com o MPLA. Não quer dizer que depois não vai haver os que tentarão. O problema é que o país tem que ter valores e mecanismos para que aqueles que tentarem(roubar) sejam responsabilizados. No fundo, o que conta nas sociedades é o indicador moral do líde, como é que ele se comporta. Porque as pessoas depois copiam. O líder não pode perder a latitude moral de poder corrigir as coisas. A lógica tem que ser assim.
SA – Falando em moralidade dos líderes e fazendo um desvio do foco político, qual é o exemplo que Abel Chivukuvuku tem a dar em termos de família?
AC – Sou casado há quase trinta-e-tal anos, tenho três filhos, esposa e dois netos. As circunstâncias do país forçaram-nos muitas vezes a vivermos longe um do outro. Eu es¬tive aqui, por exemplo, nos anos 90, retido durante cerca de três anos. Há vários colegas que abandonaram as mulheres das matas e casaram-se aqui. Eu, não. Quando vieram os acordos de Bicesse, no dia 20 parti daqui para Lusaka e de lá directa¬mente para o Bailundo, onde esta-va a minha família. De lá vim com a minha família para Luanda. Há pessoas que pensam que eu me casei aqui em Luanda. Não. Eu casei-me em 1986 nas matas. E (a mulher) é a mesma que até hoje está comigo.
SA – Voltemos ao nosso foco. Já que estamos a falar de rendas, como é que vê a construção de uma classe média dentro do actual modelo?
AC - Há que reconhecer que nos últimos dez anos, apesar de se querer criar uma burguesia capitalista nacional, ligada ao aparelho do Estado, começa a surgir uma pequena classe média.
SA - E como é que ela se caracteriza?
AC - Bem, vou primeiro identifica-los. Os funcionários superiores, hoje quase todos, começam a ser da classe média. Os oficiais superiores e generais das forças armadas e da polícia. Alguns conseguiram passar para a burguesia nacional (generais e outros), mas a maioria são da classe média. Também os pequenos empresários e empreendedores. Mas ainda é negligenciável. Eu avalio que devemos ter ali 15 a 20 por cento da nossa população a entrar para os três segmentos da classe média.
SA - Quais são esses segmentos no que diz respeito a nossa realidade?
AC - A classe média-alta é aquela em que o casal consegue ter casa própria, ter duas viaturas próprias, aguenta as despesas quotidianas (alimentação, saúde, vestuário, transporte, escolaridade) e ainda faz alguma poupança. Pode-se dar ao luxo de viajar nas férias e mandar o filho estudar fora. Na classe média-média, o casal apenas consegue o essencial da vida: em vez de dois, tem um carro; ainda está a pagar uma casa própria, mas não consegue fazer poupança. A classe média-baixa vive com dignidade, tem um carrinho que de vez em quanto avaria muito. E, eventualmente, não consegue providenciar de forma regular todas as necessidades. Quando chegam lá p’ro dia 20, 25, começam a surgir as dificuldades, tem que fazer um empréstimo. Esse conjunto todo é que nesse momento, penso, não passa dos 15 a 20 por cento da população angolana. A maioria ainda é pobre. E uma es¬trutrura social estável tem que ter a maioria da população, pelo menos 70 por cento, na classe média. O que nós temos é uma estrutura social de risco.
SA - Considerou há não muito tempo que a economia angolana é de um capitalismo anárquico. Pode fundamentar isso?
AC - Porque é mais ou menos um capitalismo do Estado. Temos um segmento em que os empresários são os governantes, directamente. Não é verdade? Esses governantes que são empresários, na maioria dos casos, fazem contratos consigo próprio, utilizando a função que têm. Se estivessem numa situação de competição normal, conseguiriam? Provavelmente, não. Não são empresários. São governantes que utilizam o aparelho do Estado para enriquecerem.
SA – Mas há também muitos empresários de sucesso que são governantes.
AC – Temos os que não são governantes, mas conseguem estruturar projectos económicos em função da ligação que têm com os governantes. O que significa que, sem essa ligação, também não teriam sucesso na vida. Depois há um terceiro segmento, que é daqueles empresários que lutam para tentar penetrar no sistema, mas com muitas dificuldades, porque se não tiver compadrio, não têm hipótese. É por isso que eu disse que neste momento temos um modelo que está a procurar estruturar uma burguesia capitalista nacional. E eles escolheram-se entre eles, quem é que fica burguês, quem é que não fica. Quem é que é preciso deixar penetrar e quem é que é preciso travar.
SA – O que é que acha da actual crise trazida pela baixa do preço do petróleo?
AC – Eu não acho que o país está em crise. Acho que houve diminuição substancial de receitas, mas que não nos levam ainda a um ponto de crise. Porque quando você tem menos recursos, você tem que ser um bom gestor. Quando tens muitos recursos, talvez seja preciso ser bom gestor, mas não é imperativo. A parte que nós perdemos com a queda do preço do petróleo é igual ou superior aos recursos que o país perde na corrupção, nos desvios, no desperdício e na má governação. O que significa que a parte que era utilizada positivamente ainda se mantém.
SA – Então, se se parasse com essas práticas, a crise seria imperceptível?
AC - O problema é que não vão parar. Mesmo com a baixa de recursos, a corrupção vai continuar, o desperdício vai continuar, os desvios vão continuar. O rácio por quilómetro de estrada construído em Angola é de um milhão de dólares. Em 100 km você tem que empatar 100 milhões de dólares. Mas, os agentes que vão tratar disso tiraram 30 milhões para as comissões, os desvios e a corrupção. E isto já baixa a qualidade do que vai ser feito. O fiscalizador não vai fiscalizar bem, porque faz parte dos que receberam as comissões. Dois ou três anos depois, a estrada está outra vez danificada. E é preciso investir outra vez 100 milhões de dólares para fazer a mesma estrada. É desperdício! Se nós tivéssemos boa governação, não haveria um impacto de crise social na vida dos angolanos.
SA – Se chegar ao poder, prevalecerá a ideia de zerar tudo, no que diz respeito ao acúmulo indevido de riquezas por parte dos governantes?
AC – Nós não podemos condenar o futuro por causa do passado. Se a nossa lógica for escavar tudo que é do passado, o quê que fica dos actores hoje da vida nacional? E como é que vamos permitir construir o futuro quando estamos ainda a debater o passado? Esqueçamos o passado. Criemos é um futuro diferente. Construir o futuro com base na verdade, porque muitas coisas do passado construímo-las com base na mentira.
«Precisamos de regressar à eleição directa do presidente da república»
SA – As reformas que defende não dependem da governação?
AC – Depende de todos os actores nacionais. Porque, no fundo, a reforma sobre valores e princípios é para nos permitir construir o futuro com base na verdade. Tem a reforma sobre o modelo de Estado. Temos um modelo unitário hipercentralizado. Precisamos evoluir para um modelo de Estado também unitário – acho que por causa das tendências de divisão que ainda temos no nosso país é preciso algumas cautelas para sairmos do modelo unitário; podemos sair do modelo unitário para outro moderadamente descentralizado.
SA – Quando fala de um modelo unitário refere-se a quê exactamente?
AC – Significa que é um Estado em que há um poder central que emana para todas as dimensões da vida nacional. Não há unidades territoriais autónomas.
SA – Então a federação não se coaduna com esse modelo?
AC – Eu não sou apologista da evolução imediata para modelos federais. É possível que daqui a 50 ou 100 anos se julgue necessário. Ma, por enquanto, precisamos apenas de sair do modelo unitário centralizado para outro moderadamente descentralizado. Porque precisamos fazer também a reforma do sistema político.
SA - O que é que nós pricisamos fazer na reforma do sistema político, do sistema de governo?
AC – Primeiro, precisamos sair do híper-presidencialismo, em que o Chefe de Estado manda em tudo. Até distribuir as casas dos Kilambas ele é quem manda. Não há nenhum ser humano que pode ter capacidade para fazer tudo sozinho. Se quisermos manter o presidencialismo, temos que ir para um presidencialismo mais moderado e com equilíbrios de poderes e separação de poderes efectivos. Ou então, voltarmos para o sistema semi¬-presidencial. Também quanto ao sistema de governo precisa¬mos voltar à eleição directa do Presidente da República.
SA – Isso é imprescindível?
AC – É imprescindível. Só assim se ganha legitimidade profunda.
SA – E quanto a Assembleia Nacional?
AC – Precisamos também debater se vamos manter esse sistema unicamaral, ou se a grandeza do país e a diversidade impõem um modelo bicamaral.
SA– Quais seriam as duas câmaras?
AC – Um senado e uma câmara dos representantes dos cidadãos. Esse modelo obrigaria a fazer a discussão, se devemos ou não manter o princípio da representação proporcional misto, que é o que temos agora. Como os partidos é que fazem as listas para deputados, a maior tendência dos deputados é ficarem bem dentro do partido, porque senão da próxima vez, não te metem na lista. Se você confrontar a direcção, corre o risco de não ficar na lista. Mas se for, por exemplo, nas circunscrições uninomi¬nais, o deputado que tem que ficar é o que lida com o povo.
SA – Já se parte daí para a implementação das autarquias?
AC – Ainda só estaremos a debater, de um lado, se queremos o sistema unicamaral ou bicamaral, mas, por outro lado, de¬batermos também o modelo de eleição. Ainda seria o modelo de representação proporcional misto, como temos hoje, ou vamos para um modelo diferente. Podemos até fazer uma combinação em que para a câmara dos representantes do cidadão vamos para um modelo de representação proporcional, mas para o se¬nado vamos para as circunscrições, em que os eleitores votam na pessoa e não no partido. Isso é um debate que temos que levar a cabo de forma profunda.
SA – Onde é que entra a questão de implementar o poder autárquico?
AC - Esse modelo que temos de administrações indicadas, não funcional. Mas o poder local é poder local. Essas entidades legislativas são a nível do poder central. Se nós implementarmos o poder autárquico, também precisamos de debater como é que ficam os poderes intermédios. Poder autárquico são dos municí¬pios, portanto as câmaras municipais. Como é que fica o poder intermédio que são os governadores. Passam a ser representantes simplesmente do poder central, sem prerrogativas executivas, ou vamos encontrar um modelo de governadores eleitos e que ficam com algumas prerrogativas intermédias entre as do poder cen¬tral e as do poder autárquico.
SA – O que tem a dizer sobre a total falta de responsabilização vigente na governação?
AC - Nós aqui não temos nenhum nível de responsabilização. Podemos ter administradores que roubam, governadores que desviam, ministros, enfim, mas nunca houve aqui alguém res-ponsabilizado. Até o que temos visto é que quanto mais os auto¬res desviam, mais são promovidos. O cidadão quando é nome¬ado ministro, fica com a ideia de que «se eu não roubar, corro o risco de ser demitido». A nossa sociedade culturalmente aceitou que, quando um indivíduo é nomeado, toda a família safa-se. Todos esperam que «agora os problemas estão terminados». E ele vai para a governação com esse espírito.
SA – Uma última palavra…
AC – Para concluir, talvez gostaria de deixar uma palavra: considero que o Presidente da República cumpriu o seu papel. Em alguns momentos da história de Angola pode ter tido uma postura positiva para Angola. Em alguns momentos ficou aquém daquilo que deveria ser o seu papel. Mas deveria entender que não há nenhum actor que é permanentemente positivo. E que talvez seja tempo de ele repensar se ainda está à altura para os desafios do futuro. E eu tenho dúvidas.
«Identidade cultural não é a antitese da modernidade»
SA – Que línguas nacionais fala?
AC – Falo umbundu, kwanhama e lingala, que, apesar de não ser nacional, fala-se muito na região transfronteiriça. Eu quando vou para lá, só falo lingala.
SA – Também estava no vosso projecto de governo das eleições passadas tornar oficiais certas línguas nacionais.
AC – Eu considero que não há incompatibilidade entre a identidade e a modernidade. Podemos é destrinçar da nossa identidade o que é positivo e promover. E, ao mesmo tempo, identificarmos da modernidade o quê que é positivo. E podermos evoluir. Para mim, um dos exemplos mais profundos sobre isso tem a ver com as socie¬dades asiáticas – Japão, Chinas, Coreias, Taiwans e por ai afora – foram os que melhor absorve¬ram a dimensão tecnológica do ocidente sem terem perdido a sua própria identidade. Nós, os afri¬canos, não diria todos, temos um bocado a tendência de desprezar a identidade a favor da modernida¬de. Quando chegamos a Luanda, em 1991, havia a ideia de que ter nomes africanos, angolanos, era atraso. Era preciso ser Carvalho, Francisco, Oliveira e não-se-mais¬-quantos. E lá nós viemos Epalan¬ga, Chivukuvuku, Tchilungutila, não-sei-quê. Mas ajudou a valori¬zar, porque passou a haver pessoas responsáveis com nomes africa¬nos, nomes nossos. Precisamos ver que identidade não é antítese da modernidade.
SA – Quais seriam as línguas que se tornariam oficiais e o quê que isso mudaria na vida do cidadão comum?
AC – Que línguas? Isso pressupõe estudos, dados estatísticos, universo de falantes e por aí fora. Formula-se o princípio, mas a execução pressupõe vários estudos. Agora, a implicação disso. Nesse momento um cidadão que só fale Kimbundu, para tratar do BI tem imensas dificuldades porque na administração ninguém o aten¬de. Então, vai ser discriminado. Se um dos factores fosse evitar a discriminação, veio falando em Kimbundu, chega na administração é atendido em Kimbundu, quer um papel, também encontra o documento escrito em Kimbundu. Assim, pelo menos, as nossas línguas teriam um papel na nossa vida social e económica. O intelectual pode não ser obrigado, mas é incentivado a aprender as nossas línguas.
SA – Um dos muitos problemas que temos é o da propriedade das terras. Casas derrubadas aqui e ali, terrenos desapropriados, porque o Estado, ou certos oficiais, ou cer¬tos governantes, se declaram seus proprietários. E simplesmente não acontece nada. Como ultrapassar essa maka?
AC – Não são só os generais, são ministros, governantes, e por aí fora. O princípio, a formulação: a terra é de quem? Na minha concepção, a terra é do povo e das co¬munidades. O Estado deveria ser apenas o gestor. O proprietário é o povo. Basta ver: o Estado angola¬no surgiu quando? Como entida¬de surgiu em 1975. E antes disso não havia povo? Antes disso, não havia terra? Já não eram os donos das terras? A terra é das pessoas e o Estado vem como gestor para re¬gular a sua utilização. E regular a sua utilização pressupunha que as terras das comunidades deveriam ser reguladas para usufruto das comunidades. Obviamente temos terras onde não há comunidade. O nosso país é grande e a nossa população é pequena. E eu defen¬do que a nossa população tem que aumentar. Angola só vai ser viável com 60 a 80 milhões de habitan¬tes. Mas temos espaços virgens. O Estado pode regular esses espaços virgens. Mas, ao mesmo tempo, o Estado tem que fazer a fiscalização e o acompanhamento. As terras têm de ser outorgadas nas áreas verdes àqueles que querem fazer utilização delas. E tem que se dar um prazo de «x» tempo. Esse é que deveria ser o princípio. Pelo que vou vendo,sinto que no Namibe, Lubango, Cunene, não muito Huambo, Kwanza Sul, Benguela, Bié e Malanje poderemos ter,a médio prazo, muitos conflitos de terra. Por causa da ocupação de terras em larga escala sem a devida utilização.