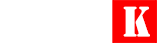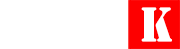Lisboa - A estabilidade em Angola pôs fim à guerra, mas a ex-colónia portuguesa passou a viver "uma paz armada", realça a analista Paula Cristina Roque, prevendo que a sucessão do atual Presidente possa gerar "muita violência".
Fonte: Lusa
 Analista sénior da organização International Crisis Group, Paula Cristina Roque diz que o atual Presidente angolano, José Eduardo dos Santos, "teme as pessoas que governa", mas "ainda está a tempo de fazer reformas importantes", quer na economia, alterando a gestão dos fundos petrolíferos e combatendo a corrupção, quer tentando "apaziguar as frustrações dos segmentos da população que vivem com menos de dois dólares por dia num pais que é riquíssimo".
Analista sénior da organização International Crisis Group, Paula Cristina Roque diz que o atual Presidente angolano, José Eduardo dos Santos, "teme as pessoas que governa", mas "ainda está a tempo de fazer reformas importantes", quer na economia, alterando a gestão dos fundos petrolíferos e combatendo a corrupção, quer tentando "apaziguar as frustrações dos segmentos da população que vivem com menos de dois dólares por dia num pais que é riquíssimo".
A analista que acompanha Angola a partir da África do Sul não duvida que, no dia em que José Eduardo dos Santos deixar o poder, "as coisas vão-se complicar muito".
Paula Cristina Roque prevê "muita violência", porque "a sucessão não está a ser bem pensada" e, portanto, não vai ser "pacífica".
Em primeiro lugar, é importante afastar a ideia de "oligarquia", defende. Filomeno dos Santos, o filho do Presidente colocado na linha de sucessão, ou o atual vice-presidente, Manuel Vicente, "provavelmente não vão ser aceites pelo próprio MPLA", o partido no poder, antevê.
A sucessão "tem de ser bem preparada, com alguém que consiga gerir um país que vai estar, de uma forma ou outra, muito fragilizado economicamente e politicamente", alerta,
Em segundo lugar, destaca, "a economia está muito tremida, a Sonangol, que é o motor económico de Angola, está com grandes dificuldades financeiras" e o país, que "depende de um recurso que é finito", o petróleo, "está com um défice orçamental enorme" e "uma dívida externa ainda maior".
José Eduardo dos Santos "fez muitas coisas boas", concede a analista, assinalando, porém, que "não foram suficientes para que houvesse reconciliação", após décadas de guerra, com violações de direitos humanos "que ainda hoje continuam".
Ora, a ausência de reconciliação, aliada à corrupção e à pobreza extrema, que convive com a "riqueza extrema", conduz a uma política de repressão. "Quando não se consegue governar com legitimidade em vários segmentos da população, tem de se liderar com repressão e violência", explica.
"Angola é um país estratificado, que não está conciliado consigo mesmo, que tem jovens que estão presos por lerem livros e fazerem palestras sobre as formas pacíficas de derrubar um ditador", recorda, considerando que este cenário demonstra que Angola "é um Estado que teme a sua população".
O país deixou de estar em guerra, mas a situação dos direitos humanos "estagnou" e "continua complicada", afirma.
"A estabilidade está a ser testada agora que a crise do petróleo está a avançar para uma crise financeira", mas já é possível destacar a "tendência" das autoridades de Luanda para serem "menos tolerantes a várias formas de protesto", destaca.
Por outro lado, a sociedade civil em Angola "é sofrida" e tem de aprender a trabalhar com outros segmentos, a imprensa, a oposição, as igrejas, os jovens universitários, o setor privado. Só juntos poderão enfrentar um aparelho de Estado que abafa "qualquer tipo de atividade que apele à democracia", considera, reconhecendo que "é preciso ter muita coragem e muita coluna vertebral em Angola para se conseguir fazer ativismo".
Às tensões, o regime tem respondido com "uma violência extrema", gerando "um ciclo vicioso, que só vai criar mais ressentimento, mais frustração e mais focos de protesto", observa.
Não basta realizar eleições, sobretudo quando "não refletem a vontade popular" -- já que um terço do eleitorado não consegue votar -- e são marcadas por "irregularidades nunca explicadas", realça. A imagem que Angola quer projetar no exterior, de modernidade e crescimento, é "fachada", conclui.
"Angola é um país de securocratas, onde tudo é uma questão de segurança, onde tudo é uma questão de defesa do Estado, defesa do Estado contra a sua própria população", explicita Paula Cristina Roque, recordando que se trata de um país "militarizado", com "quase meio milhão de ex-combatentes" que "não recebem o que têm a receber do Estado" e 160 mil homens nas forças armadas.