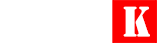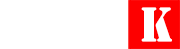Lisboa - O período pós-Guerra Colonial fixou as linhas que marcaram um conflito de quase 30 anos. E é o início de "A Guerra Civil em Angola", livro de Justin Pearce do qual o Observador faz a pré-publicação.
Fonte: Observador
 Do fim da Guerra Colonial aos acordos de Luena. Da independência angolana face a Portugal à morte de Jonas Savimbi e ao desmantelar dos últimos redutos da UNITA. É este intervalo temporal, feito de quase 30 anos, que Justin Pearce trabalha no livro “A Guerra Civil em Angola: 1975-2002” (chega às livrarias a 13 de Abril). Há 15 anos que o conflito terminou (a 4 de Abril de 2002), um dos mais longos e sangrentos de África. Ao mesmo tempo, um dos que deixaram mais por explicar. O autor quer, com este livro, contribuir para esse necessário esclarecimento.
Do fim da Guerra Colonial aos acordos de Luena. Da independência angolana face a Portugal à morte de Jonas Savimbi e ao desmantelar dos últimos redutos da UNITA. É este intervalo temporal, feito de quase 30 anos, que Justin Pearce trabalha no livro “A Guerra Civil em Angola: 1975-2002” (chega às livrarias a 13 de Abril). Há 15 anos que o conflito terminou (a 4 de Abril de 2002), um dos mais longos e sangrentos de África. Ao mesmo tempo, um dos que deixaram mais por explicar. O autor quer, com este livro, contribuir para esse necessário esclarecimento.
As consequências desta guerra civil definiram o panorama político e social da Angola contemporânea. “O legado da guerra está patente, não apenas na persistência da um conceito partidário de nacionalismo que liga o interesse nacional à incumbência de um determinado partido. O memorialismo selectivo da guerra e suas consequências, da luta anticolonial à guerra civil e ao término desta, está também na base das reinvindicações à legitimidade por parte do MPLA.” As palavras são de Justin Pearce, historiador e investigador, especializado em temas africanos.
As alianças políticas e a oposição UNITA-MPLA, são estes dois dos principais temas de um livro originalmente publicado em 2015, pela Cambridge University Press, e que agora tem edição em português pela Tinta-da-China. O Observador faz a pré-publicação de um excerto que recorda os factos e acontecimentos em Angola após o 25 de abril e como MPLA, UNITA e FNLA — as forças que lutavam pela soberania no país — foram os grandes protagonistas deste período e delinearam um futuro dramático para milhares de angolanos.
“A forma como os movimentos de libertação se integraram na sociedade angolana no ano subsequente ao golpe de Estado contribuiu para definir a futura natureza da política de Angola, tanto na sua diferenciação regional como no seu cunho elitista. A princípio, a mobilização política foi, conceptualmente, livre e competitiva, embora as concentrações regionais reflectissem as origens das elites fundadoras dos movimentos: a FNLA no Norte bacongo, o MPLA em Luanda e no território interior que lhe é adjacente, e a UNITA no Planalto Central. Vimos que os autodenominados membros de uma elite intelectual consideravam, não sem razão, que haviam tido acesso a ideias anticoloniais que não estavam ao alcance de outros. Da mesma maneira, os indivíduos cultos e educados explicaram a sua adesão política, após o 25 de Abril de 1974, como sendo o resultado de uma escolha consciente e informada, ainda que estivessem convencidos de que aos menos instruídos não restara outra alternativa a não ser apoiar qualquer movimento que assumisse o controlo da zona onde viviam. Bernardo, na época um jovem activista que viria a fazer carreira ao serviço do estado, referiu que tinha escolhido o MPLA devido à plataforma socialista adoptada «para convencer o povo e as comunidades nacional e internacional sobre qual [era] o objecto da sua luta» e para «pôr fim à exploração». Estas escolhas, acrescentou, foram feitas pelas «pessoas mais esclarecidas», enquanto entre «os menos esclarecidos não foi isso que aconteceu, porque até esse momento a alternância de poder era desconhecida no país… porque este estava a sair do colonialismo e do obscurantismo. Isto levou a que as pessoas tivessem dificuldade em perceber a diferença». Paulina, uma antiga funcionária pública da mesma geração, disse ter escolhido a «visão progressista» do MPLA, que «me ajudou a definir as minhas ideias», em detrimento da «ênfase na cultura», que dominava o discurso da UNITA.
Alguns elementos das bases da UNITA também aludiram à existência de uma dimensão ideológica no processo de recrutamento do movimento. Um antigo tenente recordou que aderiu à UNITA, em 1974, quando era estudante, porque «era o movimento que libertaria o povo angolano… das garras do colonialismo português». Em contrapartida, os que se identificavam menos convictamente com qualquer dos partidos mostraram-se mais cépticos quanto à existência de diferenças ideológicas entre ambos. Um professor referiu que «cada partido tinha a sua maneira de explicar a sua ideologia e cada pessoa reflectia sobre ela e, mediante a sua interpretação, escolhia o que era melhor para si… Cada [partido] afirmava que, se fosse ele a governar o país, faria melhor pelo povo». Abel Chivukuvuku, que aderiu à UNITA ainda jovem, na sequência do golpe militar em Portugal, atribui a sua decisão de aderir ao movimento, no período entre 1974 e 1975, sobretudo às origens locais da UNITA:
A UNITA nem precisou de se mobilizar… acho que aconteceu o mesmo em Luanda [com o MPLA], ou no Uíge, em Mbanza Congo [com a FNLA] — as pessoas simplesmente pensavam: «Esta é a nossa organização.» E, pelo facto de as elites da região aderirem, todos aderiam.
Embora Savimbi tenha sido um produto do nacionalismo oriundo das missões do Planalto Central, e nele tenha encontrado inspiração, foi no Leste do país que formou o seu exército, pelo que só em 1974 a UNITA conquistou uma base de apoio maciça no Planalto Central. Segundo um informador: «A UNITA saiu das matas como um bando de guerrilheiros maltrapilhos. Foi só nessa altura que os miúdos educados nas escolas das missões apareceram aos magotes.»
Em síntese, quem se identificava com o MPLA, em 1974 e 1975, sentia‐se movido por um compromisso ideológico claro com o partido — o primeiro contacto com o MPLA foi, muitas vezes, através das suas emissões de rádio —, uma ligação que se manteve mesmo quando a UNITA passou a ser o movimento militar dominante. Os seguidores da UNITA desejavam a libertação nacional, mas a sua opção pelo movimento foi determinada, em igual medida, pelas raízes do movimento num certo estrato social e pelas suas prioridades ideológicas. Nas vésperas da independência, a maioria dos indivíduos citados até ao momento vivia em centros urbanos ou frequentava as escolas das missões. Nas aldeias, pelo contrário, ninguém fez referência ao recrutamento de pessoas pelos movimentos de libertação antes da independência. O mais‐velho de uma aldeia, apesar de leal à UNITA, secundou a atitude de muitos aldeãos, dizendo: «Em 1975, a UNITA estava aqui, mas as tropas só ocupavam os locais onde viviam os brancos.» Dito de outro modo, a UNITA estava presente na região, mas mantinha as suas bases instaladas nas cidades.
Os factores determinantes da filiação política foram mais complexos do que simples linhas desenhadas num mapa: embora fosse uma criação das elites do Planalto Central, a UNITA não conseguiu garantir o apoio dos habitantes das cidades que estavam familiarizados com o MPLA, instituído há mais tempo. Mais tarde, em meados da década de 1970, os dirigentes da UNITA serviram‐se das estratégias maoistas de resistência camponesa para tentar mobilizar as populações rurais, no Planalto Central. A sua acção, no entanto, era principalmente urbana. A maioria dos relatos sobre o MPLA também descreve um movimento essencialmente urbano, com um êxito modesto nas tentativas de criação de zonas rurais libertadas durante a guerra anticolonial. O MPLA depressa perdeu o interesse nessas zonas logo que o golpe de Estado em Portugal permitiu a mobilização nas cidades.
Embora o quadro jurídico da transição para a independência tenha sido definido pelo Acordo de Alvor, assinado pela FNLA, o MPLA, a UNITA e Portugal, a 15 de Janeiro de 1975, as suas disposições surtiram poucos efeitos perante as posições das elites portuguesas e angolanas: do lado português, havia uma relutância em exercer a autoridade, e do lado dos movimentos angolanos verificava‐se a ausência de uma visão comum de nação e uma carência em termos de responsabilidade popular devido ao alcance limitado da mobilização inicial. O Acordo de Alvor determinou a criação de um Governo de Transição, a 31 de Janeiro, com uma presença equitativa dos três movimentos, um alto‐comissário nomeado por Portugal, incumbido de resolver litígios interpartidários, e a formação de um exército unido, a par da retirada faseada das tropas portuguesas. Os relatos dos acontecimentos ocorridos nos meses subsequentes ao Alvor são unânimes em afirmar que o executivo de transição praticamente não funcionou, enquanto os responsáveis portugueses se serviram da existência de jure do executivo para se isentarem de responsabilidades em relação ao que estava a acontecer em Angola.
A situação desencadeou uma sequência de acontecimentos que não corresponderam a um processo de descolonização, mas resultaram, sobretudo, na apropriação gradual de prerrogativas do estado por parte dos movimentos independentistas, incluindo o uso da violência em nome da defesa das comunidades. É nesta assunção de prerrogativas que podemos situar as origens das formas como os movimentos de libertação exerceram e procuraram justificar o seu controlo do território e das populações ao longo do conflito armado que se seguiu. O MPLA conseguiu incorporar os comités de autodefesa, formados para responder à violência praticada pelos colonos, enquanto a FNLA os encarou com reservas por razões ideológicas. Nos primeiros meses de 1975 registaram-se alguns recontros entre jovens e militares alinhados com o MPLA e a FNLA. O clima de tensão agravou‐se ao ponto de soldados dos dois exércitos atacarem as instalações dos dois partidos, no final de Março de 1975. Quase em seguida, as Forças Armadas Portuguesas (FAP) foram acusadas de não intervir, e combatentes dos três movimentos de libertação juntaram-se às tropas portuguesas para tentar repor a ordem.
Nos dias que se seguiram, o alto‐comissário ordenou a entrega de armas às patrulhas portuguesas ou da UNITA, determinando que só este movimento integraria as patrulhas mistas com as forças do exército português. Contudo, o MPLA e a FNLA prosseguiram um patrulhamento independente, uma indicação da falta de autoridade dos portugueses e de uma desconfiança mútua que, em breve, redundaria em novos actos de violência. O conflito intensificou-se depois de 8 de Julho e, no decurso dos combates, um grupo de apoiantes do MPLA e da FNLA atacou o Alto Comissariado português. O Tempo, semanário lisboeta de direita, comentou em tom sardónico a abdicação das forças portuguesas da sua responsabilidade na manutenção da ordem, afirmando que elas só retaliavam, «num acto tardio de soberania portuguesa e prova da existência de tropas portuguesas em Angola», quando as FAPLA atacavam veículos das FAP.
 O regresso da calma relativa a Luanda, em meados de Julho, anunciou não o alcance de um acordo, mas a vitória efectiva do MPLA sobre os seus rivais — um dos primeiros casos de uma tendência dos movimentos nacionalistas para impor o controlo territorial total pela força das armas que definiria o perfil do conflito nos meses seguintes. As FAPLA juntaram‐se às FAP nas operações de patrulhamento para «evitar actos de banditismo», enquanto os militantes do MPLA detinham saqueadores, «protegendo, assim, as casas e bens que foram abandonados». Enquanto a UNITA, poucos meses antes, merecera a confiança dos portugueses como força promotora da paz, uma vez que não se envolvera nos actos de violência perpetrados em Luanda, a autoridade conquistada pelo MPLA, em Julho, reflectia o facto de ter imposto um monopólio da força em Luanda com o beneplácito das autoridades portuguesas.
O regresso da calma relativa a Luanda, em meados de Julho, anunciou não o alcance de um acordo, mas a vitória efectiva do MPLA sobre os seus rivais — um dos primeiros casos de uma tendência dos movimentos nacionalistas para impor o controlo territorial total pela força das armas que definiria o perfil do conflito nos meses seguintes. As FAPLA juntaram‐se às FAP nas operações de patrulhamento para «evitar actos de banditismo», enquanto os militantes do MPLA detinham saqueadores, «protegendo, assim, as casas e bens que foram abandonados». Enquanto a UNITA, poucos meses antes, merecera a confiança dos portugueses como força promotora da paz, uma vez que não se envolvera nos actos de violência perpetrados em Luanda, a autoridade conquistada pelo MPLA, em Julho, reflectia o facto de ter imposto um monopólio da força em Luanda com o beneplácito das autoridades portuguesas.
A UNITA era um actor marginal, em Luanda, mas para ela e para os outros movimentos a politização fez parte de um processo que também envolveu a militarização. Daqui surgiu uma associação entre política e vida militar que se manteve até ao fim da guerra civil. O relatório oficial da Força de Defesa da África do Sul (SADF) sobre a sua intervenção em Angola refere que Savimbi começou a receber armamento da África do Sul logo em Outubro de 1974, ou seja, três meses antes da assinatura do Acordo de Alvor. Segundo este relatório, a SADF tomara a iniciativa de contactar Savimbi, em Julho de 1974. A UNITA continuou a ampliar o seu exército e a sua base de guerrilheiros, deslocando elevados contingentes de pessoas do Planalto Central para as suas bases militares, no Leste do território. Segundo o antigo general da UNITA, Geraldo Sachipengo Nunda, a condição imposta pelo Acordo de Alvor obrigando cada movimento a contribuir para a formação de um exército único através da disponibilização de uma determinada quota de militares desencadeou uma corrida ao recrutamento, mesmo numa época em que a animosidade ideológica entre os vários movimentos era reduzida.
A violência política no Planalto Central apenas se tornou um problema sério quando o conflito em Luanda provocou um êxodo de pessoas com origens familiares na região do Planalto Central. Os entrevistados do Huambo referiram‐se à ocorrência de «massacres», em Luanda, que obrigaram os que tinham raízes familiares no Planalto a fugir da capital. As reportagens publicadas na imprensa falam da chegada ao Huambo de «inúmeros refugiados» provenientes do Cuanza Norte (interior de Luanda), «alguns… com intenção de ficar no Huambo apenas até terminar o período de confrontos… Outros não pensam regressar ao Norte». Alguns milhares saíram, alegadamente, de Luanda rumo ao Lobito e ao Huambo, na sequência de «graves incidentes» em Luanda, entre os dias 8 e 17 de Agosto, que obrigaram as pessoas a fugir «ao tiroteio, às granadas, aos morteiros, ao tribalismo, ao banditismo». Algumas foram atacadas por apoiantes do MPLA ao chegarem ao Cuanza Norte, a fronteira teórica entre o Norte e o Sul de Angola.
Nunda recorda este incidente como a época em que «surgiu a lógica da guerra. Daí para a frente, as linhas dividiram‐se». Na época, o MPLA deu ênfase à expulsão dos militares da FNLA enquanto parte do seu exercício de soberania na capital, ignorando o facto de a população civil também ter sido obrigada a abandonar Luanda. A 29 de Julho, uma declaração emitida pelo MPLA anunciava que «os habitantes de Luanda assistiram à expulsão das forças da ELNA [o exército da FNLA] com alegria», embora, no dia 8 de Agosto, uma nova batalha entre forças do MPLA e da FNLA tivesse «levado os portugueses a ceder às exigências do MPLA no sentido de proceder à evacuação dos ministros da FNLA da capital». Os elementos da UNITA que integravam o Governo de Transição deixaram Luanda sensivelmente na mesma época. Alguns apoiantes portugueses da UNITA advertiram os responsáveis do movimento de que correriam perigo caso decidissem permanecer em Luanda, e disponibilizaram‐lhes um avião para os transportar para o Huambo. Os acontecimentos de Agosto ditaram o fim do Governo de Transição e do Acordo de Alvor.
No Planalto Central, a UNITA retaliou com acções violentas contra apoiantes do MPLA. Moco, à época um jovem militante do MPLA da região do Huambo, foi feito prisioneiro durante algum tempo pela UNITA, que detinha uma «supremacia ideológica, física, militar, tudo. Os militantes do MPLA foram capturados, mortos… Foi, praticamente, uma vingança pelo que tinha acontecido aos militantes da UNITA que tinham estado em Luanda». No final de Junho, surgem notícias de que Savimbi teria sido recebido no Huambo por «uma multidão estimada em muitas dezenas de milhares de pessoas que o aplaudiram em delírio». A UNITA consolidou o seu domínio na região expulsando forças do MPLA do Cuíto, no início de Agosto. O MPLA, que até então apenas se preocupara com a oposição da FNLA, começou a referir-se à UNITA como um rival, acusando-a, e à FNLA, de «intimidarem e aterrorizarem os nossos militantes… e de impedirem o avanço do nosso povo na luta contra o imperialismo», e atribuindo à UNITA a autoria de ataques reiterados a activistas do MPLA, na zona do Planalto Central, durante os meses de Julho e Agosto.
A entrada tardia da UNITA num conflito que, inicialmente, opunha apenas o MPLA e a FNLA, deveu-se à sua fraca presença e falta de ambição em Luanda numa época em que os outros dois movimentos concentravam os seus esforços na luta pela supremacia numa cidade que sabiam ser um elemento crucial para o controlo do estado independente. Embora as elites da UNITA enfatizassem as origens do seu movimento no Planalto Central, a maioria da população desta região manteve-se afastada da política até o conflito alcançar o interior do país, tendo a experiência da violência servido para politizar indivíduos que, antes, não sentiam qualquer interesse pela disputa entre os movimentos rivais. As entrevistas com pessoas que se recordam desse período revelam que alguns continuaram apáticos até os «massacres» e movimentos populacionais ocorridos em Julho e em Agosto de 1975 não permitirem aos habitantes dos centros urbanos do Planalto Central continuar a ignorar o conflito.
Os relatos sobre os últimos anos da guerra civil de Angola evidenciam o papel da intervenção externa, realizada no contexto da Guerra Fria, enquanto fomentadora do conflito. É, por isso, oportuno salientar que o antagonismo descrito até ao momento se manifestou numa época em que nenhum dos movimentos angolanos se encontrava fortemente armado. A UNITA recebeu algum armamento da África do Sul, em Outubro de 1974, mas, passado um ano, quando chegaram os instrutores sul‐africanos, as suas forças debatiam‐se com a carência de equipamento e treino militares. Só no final de Agosto de 1975 é que o MPLA começou a receber auxílio do seu principal aliado, a missão militar cubana. A supremacia da UNITA na região do Planalto Central, em Agosto de 1975, e o controlo de Luanda por parte do MPLA, na mesma data, ficaram sobretudo a dever‐se à mobilização local apoiada pela aprovação activa ou tácita do Estado português.
Em Agosto de 1975, estava definido o carácter territorial do conflito angolano. O país começara a dividir-se naquilo que a imprensa e as autoridades portuguesas designaram por «zonas de influência», um eufemismo para retratar a posição de supremacia absoluta de um dos movimentos nacionalistas. No final do mês, o MPLA controlava todo o litoral a sul de Luanda e o território interior daí até Luau, no extremo leste do território, junto à fronteira com o Zaire. A FNLA dominava a faixa costeira a norte e a região interior adjacente, enquanto a UNITA ocupava o interior, no Sul do país. A partir daí, enquanto a FNLA e a UNITA mantiveram uma aliança estratégica, a relação entre o MPLA e os outros movimentos tornou-se completamente hostil, e todo o simulacro de cooperação, conforme previsto no Acordo de Alvor, desvaneceu‐se. Tanto a UNITA como o MPLA negaram a «balcanização» de Angola, ao mesmo tempo que se acusavam mutuamente pelo facto.
Em Luanda, o MPLA começou a institucionalizar o controlo da cidade. O seu comportamento e retórica deixaram de ser os esperados de um movimento de libertação para se aproximarem dos de um governo autoritário, ainda antes de ser reconhecido como tal. Lopo do Nascimento, primeiro‐ministro do Governo de Transição, declarou que as eleições acordadas no Alvor estavam agora «fora de questão devido à actual situação no país».73 Uma reportagem sugeria que os comités de moradores constituídos no início do ano se tinham transformado nos
Comités de Defesa Popular [CDP]: organismos paramilitares formados por trabalhadores [a fim de] garantir as condições para a existência e defesa das instituições do Poder Popular… Todos os indivíduos armados que não sejam membros das FAPLA ou dos CDP serão considerados bandidos armados ilegais.
O MPLA começou a ter, de forma explícita, o monopólio da violência praticada nas zonas por si controladas, adoptando prerrogativas de estado embora, juridicamente, Angola continuasse sob soberania portuguesa. O movimento exortou a população a «regressar ao trabalho» depois da perturbação causada pelo conflito e tomou a seu cargo a tarefa de «organizar a vida do país» por intermédio do Departamento de Organização de Massas. O MPLA assumiu o controlo da empresa estatal de radiodifusão e do jornal Província de Angola, com o objectivo de «servir… o povo, e não as forças reaccionárias». O relatório sobre a situação militar, publicado diariamente no jornal, e até aí proveniente do alto‐comissário, passou a incluir uma declaração das FAPLA, enquanto a linha editorial começou a favorecer o MPLA e a promover a «resistência popular generalizada». Até ao dia 9 de Setembro, o MPLA reconstituiu o governo, colocando os seus representantes em cargos anteriormente ocupados por elementos designados pela UNITA e pela FNLA. Uma informação da CIA registou que responsáveis do MPLA tinham colocado «grande empenho em criar a impressão de que a sua organização é o único grupo de libertação capaz de coordenar um governo angolano independente».
Os laços pessoais e ideológicos entre a esquerda portuguesa e o MPLA poderão ter facilitado a tomada do poder em Luanda pelo partido. Ambos partilhavam a linguagem da luta de classes e do anti‐imperialismo. O almirante António Rosa Coutinho, o primeiro governador destacado para Luanda após o golpe de Estado em Portugal, não escondia o seu apoio ao MPLA, um facto que lhe valeu a destituição do cargo após a assinatura do Acordo de Alvor. Mabeko‐Tali defende que, embora o MPLA estivesse dividido quanto à participação no Governo de Transição, a sua intransigência crescente encontra explicação, pelo menos parcial, nas informações disponibilizadas pelo MFA sobre a relativa fraqueza da FNLA.
Não menos importante do que a afinidade ideológica com o MFA, porém, foi o facto de ter em Luanda a sua principal base de apoio, de controlar os importantes ministérios do Interior e das Comunicações durante o Governo de Transição, e de contar com o apoio dos angolanos que eram funcionários da administração colonial e haviam permanecido nos seus postos de trabalho após a partida dos portugueses. O controlo da segurança e da propaganda permitiu ao MPLA consolidar a base de apoio em Luanda, apesar de elementos da FNLA e da UNITA continuarem a integrar o executivo do Governo de Transição. Até alguns opositores reconheceram que o movimento estava mais preparado para governar do que a FNLA ou a UNITA. Segundo MacQueen, em Julho de 1975 Portugal estaria menos inclinado a alinhar com o MPLA do que um ano antes. Independentemente das suas motivações, o certo é que, a partir de meados de 1975, Portugal pouco ou nada fez para contrariar as reivindicações de soberania por parte do MPLA, em Luanda e zonas circundantes, o centro nevrálgico do estado colonial, onde a autoridade dos portugueses continuou a ser soberana, nem que fosse teoricamente, até à data escolhida para a independência.
Enquanto o MPLA assumia o controlo de Luanda, a UNITA começava a afirmar a sua autoridade no Huambo, à medida que o MPLA era ex-pulso da cidade. Desconhece-se qual seria ainda a extensão da autoridade do estado colonial nesta fase. Uma reportagem informa que «o exército português já controla a situação», mas acrescenta que, «com a retirada das forças do MPLA da capital do Huambo, as forças da UNITA e da FNLA passaram a controlar os dois principais centros do Planalto Central, Silva Porto [Cuíto] e Nova Lisboa [Huambo]». Aqui, o «controlo» dos portugueses parece referir‐se, simplesmente, à manutenção de uma presença militar sem qualquer interferência na luta pela supremacia que opunha os vários movimentos angolanos. Nem a FNLA, nem a UNITA foram tão eficazes como o MPLA no que diz respeito à apropriação das funções do estado e à sua afirmação como governo nas zonas sob o seu controlo.
Entre os entrevistados que se recordavam do ano de 1975, no Huambo, os apoiantes da UNITA referiram‐se a professores e enfermeiros alinhados com esta organização que mantiveram as escolas e clínicas a funcionar até a UNITA ser expulsa dos centros urbanos, em Fevereiro de 1976. Os seguidores do MPLA, pelo contrário, afirmaram repetidamente que, durante o período em que a UNITA controlou a região, os serviços só funcionaram porque os funcionários angolanos da administração colonial se mantiveram nos seus postos de trabalho e não graças a novas iniciativas tomadas pela UNITA. O isolamento dos portos marítimos e o encerramento de empresas portuguesas teve um efeito devastador na economia regional. O jornal Província de Angola noticiou que «o Huambo continua praticamente isolado do resto do mundo», tendo as linhas telefónicas e de telex sido cortadas e não havendo combustível suficiente para alimentar a estação de rádio VHF. O jornal cita indivíduos chegados do Huambo, que referem: «já não há cerveja, nem açúcar», nem bens de primeira necessidade, nem tão-pouco havia gasolina. Contudo, a UNITA e a FNLA pretendiam apropriar-se dos recursos do estado para servir os seus próprios interesses, enquanto as autoridades portuguesas não queriam ou não foram capazes de oferecer resistência.
Em Setembro, a TAAG, a transportadora aérea estatal, anunciou que, a partir desse momento, apenas voaria para zonas controladas pelo MPLA, depois de a FNLA e a UNITA terem requisitado um avião da companhia, no Uíge e no Huambo. Isto aconteceu num período em que os portugueses ainda mantinham uma presença militar no Huambo. A UNITA manteve uma parte do Caminho-de-Ferro de Benguela em funcionamento, colocando-o ao serviço do movimento. No Cuíto, assumiu o controlo da sucursal local do banco estatal e o dinheiro continuou a circular na cidade.
Em Luanda, ou em qualquer outra zona do país, esta apropriação das funções do estado pelos movimentos de libertação deve ser entendida no contexto da partida dos funcionários portugueses e da relutância ou incapacidade de intervenção manifestada pelas forças de segurança portuguesas ainda presentes no território. Por maior que fosse o repúdio dos dirigentes portugueses em relação ao passado, não podiam esquivar-se às realidades jurídicas que haviam herdado. Os funcionários públicos de Angola estavam ao serviço do Estado português, sendo obrigados a responder perante os seus superiores hierárquicos, em Lisboa. A renúncia à autoridade soberana representou, assim, o desmantelamento do estado em Angola. Os funcionários públicos receberam tratamento prioritário no programa de repatriamento, e os que não conseguiram colocação à chegada a Portugal foram mantidos no quadro auferindo de metade da sua remuneração mensal.
O vazio criado pela retirada do estado foi ainda mais evidente nas regiões periféricas de Angola, onde se procedeu à evacuação das forças de segurança e ao encerramento dos serviços públicos após a partida dos funcionários portugueses nos meses que antecederam a independência. O relatório da SADF indica que Portugal abandonou a fronteira sul de Angola no início de Agosto de 1975. A África do Sul e Portugal haviam realizado operações conjuntas de protecção às várias barragens situadas junto à fronteira entre Angola e o Sudoeste Africano, ao longo do curso do rio Cunene, mas, «em Agosto de 1975, o desmantelamento progressivo da administração colonial portuguesa não deixava margem para dúvidas». Quando as forças da UNITA ocuparam dois postos de controlo fronteiriço, no início de Agosto, «o destacamento português ali colocado procurou refúgio junto da polícia sul-africana, na Ovambolândia».
A partida das tropas portuguesas permitiu à SADF assumir posições militares em Angola, a 12 de Agosto. Um editorial do Diário de Notícias reagiu, num tom encolerizado, ao que designou por violação da soberania portuguesa, embora as forças portuguesas no terreno não tenham oferecido qualquer resistência. Ao mesmo tempo, decorria a retirada das tropas estacionadas no Norte de Angola. Um relatório datado de 6 de Agosto descreve a evacuação do Uíge e do Negage, duas cidades estratégicas situadas nas zonas de produção cafeeira controladas pela FNLA: «Como é habitual, grande parte da população civil acompanha a tropa portuguesa [numa] coluna constituída por centenas de viaturas.»
No regresso a Portugal, um antigo residente em Angola contrapõe a retirada faseada das tropas que fora acordada no Acordo de Alvor com o que sucedeu na realidade, referindo que todo o apoio militar e logístico das tropas portuguesas desapareceu de Angola. E essas tropas corriam o risco de ficar perfeitamente isoladas. […] Assim, cada vez que a tropa portuguesa abandona determinada cidade ou posição, a população branca igualmente abandona essa cidade ou posição. […] Mas igualmente a população negra, que não seja afecta ao movimento que controla a zona em questão, acompanha as tropas portuguesas no momento da retirada.
Como referido anteriormente, o governo revolucionário em Portugal hesitou em exercer os seus poderes de soberania em Angola por razões ideológicas. Porém, a sua aparente falta de interesse pelo que se passava em África também pode ser, parcialmente, atribuída à crise política em que Portugal estava mergulhado, ateada não apenas por questões internas, mas também pelo medo e indignação dos colonos perante o que entendiam como um abandono por parte do governo. À medida que as suas forças renunciavam ao controlo, Portugal anunciou a realização de uma ponte aérea para evacuar 270 mil pessoas de Luanda e do Huambo nos três meses que antecederam a data da independência, um contingente duas vezes superior ao total de pessoas que haviam partido nos 15 meses transcorridos desde o golpe de Estado. Segundo o general Nunda, as forças da UNITA auxiliaram a operação de evacuação do Huambo.
É bem possível que a ponte aérea exigisse, pelo menos, a colaboração, se não a cooperação activa, da UNITA. Esta operação tornar‐se‐ia a principal preocupação do governo colonial nos meses seguintes até ao início de Outubro, quando as autoridades anunciaram o fim da evacuação do Huambo. A conclusão da ponte aérea na cidade assinalou o fim da presença portuguesa no Sul de Angola, mais de um mês antes da data marcada para a independência.
Os acontecimentos referidos indiciam que a delimitação de território entre o MPLA e a UNITA, realizada no fim de Agosto de 1975, resultou de uma mobilização política local e de decisões tomadas de maneira autónoma pela direcção de cada movimento, tendo decorrido sem confrontos militares organizados. Ao invés, o movimento dominante em cada região foi, gradualmente, ganhando controlo territorial, assumindo, por vezes, funções de estado perante uma presença militar e administrativa portuguesa cada vez mais escassa. A violência manifestava-se nas escaramuças entre militares dos diferentes movimentos ou em ataques a civis presumivelmente associados ao movimento rival.
Como referido, o MPLA e a UNITA começaram a receber auxílio de instrutores militares cubanos e sul‐africanos, respectivamente, a partir de Agosto ou Setembro de 1975. Enquanto isso, a África do Sul decidia, de forma unilateral, deslocar o seu contingente militar estacionado a norte do rio Cunene. Em Agosto, porém, a iniciativa militar e política continuava a pertencer aos movimentos angolanos, uma situação que iria alterar‐se nos dois meses seguintes, à medida que o MPLA e a UNITA procuraram apoios fora do país e a estratégia política dos actores angolanos passou a estar subordinada ao envolvimento de agentes externos.
Em Outubro, a invasão em grande escala da África do Sul alterou profundamente os contornos do conflito. Uma unidade da UNITA comandada por um major sul‐africano e assessorada por consultores sul-africanos conteve o avanço do MPLA sobre o Huambo a partir de Benguela. Seguiu‐se a entrada em Angola da coluna Zulu da SADF, a 14 de Outubro, que expulsou as forças do MPLA estacionadas ao longo da faixa costeira até Novo Redondo (Sumbe), a norte do território. Apesar dos pedidos de auxílio do MPLA para combater a invasão sul‐africana, Cuba mostrou‐se reticente em enviar tropas para um território sob soberania portuguesa. A primeira força de combate cubana chegou a 9 de Novembro e foi enviada para sul com a missão de conter o avanço dos sul-africanos. Dois dias mais tarde, Portugal concedia a soberania ao «povo angolano», uma formulação deliberadamente ambígua que veio ratificar a situação real de disputa territorial vigente.
Agostinho Neto, presidente do MPLA, proclamou a independência da República Popular de Angola, em Luanda, enquanto, no Huambo, Savimbi anunciava a criação da República Democrática de Angola. As Forças Especiais cubanas travaram o avanço das tropas sul‐africanas fazendo explodir pontes no rio Queve e, posteriormente, na batalha decisiva, travada na região do Ebo no dia 23 de Novembro.97 Entretanto, o exército da FNLA, que marchava em direcção a Luanda, vindo do Norte, foi destroçado por mísseis cubanos. A iniciativa militar passou, então, a pertencer ao MPLA, levando à retirada da SADF de Angola, entre Janeiro e Março de 1976, e à fuga da UNITA das cidades do interior do país, no início de Fevereiro.”
Justin Pearce é investigador na Faculdade de Política e Estudos Internacionais na Universidade de Cambridge (St. John’s College). Doutorou-se na Universidade de Oxford com uma investigação sobre a guerra civil angolana (2011) e fez o pós-doutoramento na School of Oriental and African Studies da Universidade de Londres. Foi jornalista na África do Sul, no Reino Unido e em Angola. Publicou também artigos em revistas como a African Affairs e o Journal of Southern African Studies. Este livro foi publicado originalmente pela Cambridge University Press (2015).