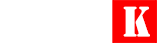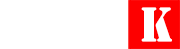Lisboa - José Eduardo Agualusa tem um novo livro, onde cabe Angola inteira. Do sonho à revolta, passando por uma greve de fome e, claro, esperança. Um livro com um pé na realidade e outro na ficção. Um livro que fala num país dominado por um regime totalitário à beira da desagregação, onde falta uma liderança para dirigir o descontentamento e inaugurar uma nova era. Angola vai a eleições em Agosto e “ninguém sabe o que pode acontecer”.
Fonte: Jornal Economico
 Deu o título “A Associação de Sonhadores Involuntários” ao seu novo livro. Porquê ‘involuntários’?
Deu o título “A Associação de Sonhadores Involuntários” ao seu novo livro. Porquê ‘involuntários’?
Porque é um conjunto de sonhadores que não escolhem aquele percurso. São alcançados por ele, por aquele destino. É um grupo de pessoas que tem uma relação singular com os sonhos e que se encontram mais ou menos por acaso, embora talvez não por acaso, porque tudo se organiza de forma a que aquele encontro tenha um sentido… É assim a vida!
Neste livro recupera o personagem Daniel Benchimol, de “Teoria Geral do Esquecimento”, para explorar os sonhos na vida das pessoas. Sentiu necessidade de usar um personagem com passado?
A mim dá-me prazer pegar em personagens de outros livros, de romances anteriores. Há personagens que pedem para crescer, digamos assim. E a minha estratégia para escrever livros implica ser conduzido pelos personagens. Quando começo um livro, nunca sei onde vai dar. Escrevo para saber o que vai acontecer. É bom ter um personagem forte que vá abrindo a história, o caminho. Gostei muito deste personagem e achei que ele ficaria ali bem e que conseguiria fazer esse papel. [sorriso]
A ideia para o livro começou a ganhar forma há seis anos. De permeio houve outros livros e interrupções. Era preciso que Angola voltasse a sonhar – refiro-me ao sonho dos revus, os jovens que foram presos e acusados de conspirar um golpe de Estado – para o livro ganhar asas?
A história do livro surgiu há uns seis anos, na altura da eclosão da Primavera Árabe, que me impressionou muito. Aliás, acho que impressionou muita gente em todo o continente. Na sequência da Primavera Árabe aparece o Luaty [Beirão] de uma forma extraordinária… irrompe num show, incitando as pessoas a derrubar o regime. Aquilo foi uma coisa tão forte! Ainda por cima, a ditadura já tinha caído no Egito e na Tunísia, o Kadhafi estava a cair… tudo parecia possível! Parecia que aquele movimento podia descer o continente e contaminar todos os países. Comecei a escrever o livro movido por esse sentimento. Depois interrompi-o várias vezes, é verdade, e retomei há um ano e meio, dois anos.
Falou no Luaty. Alguma vez sonharam o futuro de Angola em conjunto?
Sim, claro. Conheci o Luaty há alguns anos, e depois disso ele envolveu-se na organização de uma série de manifestações pela democracia em Angola. Encontrámo-nos diversas vezes e quando o grupo [dos 15 + 2] foi preso, estive também nesse processo de resistência. Foi um movimento muito interessante e, mais uma vez, pensei que tinha potencial para se alargar, mas infelizmente isso não aconteceu.
Esse movimento é transversal a todo o país ou é um fenómeno urbano?
É sobretudo urbano, mas dentro da cidade toca várias camadas sociais.
O endurecimento do regime é um sinal de fraqueza. José Eduardo dos Santos tornou-se num estorvo para o seu próprio partido, como Savimbi para a UNITA. Existe algum paralelismo?
Acho que existe de facto algum paralelismo. A situação chegou a um ponto tal que mesmo dentro do partido no poder há muita gente revoltada. Em primeiro lugar pela incapacidade do regime em gerir esta crise, que é o resultado de uma má governação, de um sistema extremamente corrupto. Ainda por cima, o José Eduardo comete outro erro enorme, que foi distribuir o país pela família. E isto mesmo dentro do MPLA tem sido muito mal visto. Acho que o José Eduardo vai cair, de uma forma ou de outra, e a família vai cair com ele. Não há grande solidariedade com ele. Por exemplo, não o podemos comparar com Kadhafi, porque tinha apoiantes que o seguiam, dentro e fora do país, pela ideologia, carisma, etc. E podemos apontar outros exemplos noutros países de ditadores que contavam com um apoio grande… Neste momento já é muito tarde para José Eduardo dos Santos, até porque ele próprio já organizou a sua saída.
Qual é a sua opinião sobre João Lourenço, ministro da Defesa e sucessor escolhido pelo Presidente?
Não tenho uma opinião. É um homem do sistema, não me parece que tenha pensamento próprio e também não me parece capaz de organizar uma transição para uma democracia efetiva. E a verdade é que este sistema, como está, também custa a crer que consiga manter-se. Parece-me que é uma figura de transição.
Não se perspetiva um caminho neste momento, até porque a oposição continua refém da sua duplicidade, é isso?
Sim, a oposição é desorganizada e pactua com o sistema. A própria oposição não preparou esse momento de transição. Devia ter começado a fazê-lo há muito tempo! Infelizmente, o país não está preparado.
Em declarações à Lusa, defendeu, e vou citá-lo, que “a oposição não deve ir a eleições, mas sim para a luta na rua – não violenta – para derrubar o regime.” Há massa crítica para isso?
Há. Mas o que há também é muito medo, por um lado. E por outro, essa oposição parlamentar deixou-se ficar refém do regime porque depende desse mesmo regime. Os deputados têm carros, casas e famílias para sustentar. Toda essa gente que, no fundo, é a elite dos partidos da oposição – CASA-CE e UNITA –, depende do regime. E agora há críticas todos os dias à forma como estas eleições estão a ser organizadas. Há denúncias de irregularidades, etc. e, ao mesmo tempo, muitos desses líderes da oposição reconhecem que não deveriam aceitar este jogo eleitoral, mas ao mesmo tempo é como uma inevitabilidade para combater o sistema instituído.
A sociedade civil ainda é muito frágil.
Sim, é muito frágil. O que o regime fez estes anos todos com algum sucesso foi comprar lideranças. Existem vozes isoladas, como o [jornalista] Rafael Marques, Luaty Beirão e os seus companheiros, Padre Pio, etc… Há umas vozes isoladas, mas não há uma estrutura organizada ou, não sendo uma estrutura, um movimento com alguma força.
Isso implica constituir-se como um partido para entrar no ‘jogo’, ou não é forçoso que seja assim?
Não é forçoso. Há mudanças que ocorrem… Mesmo o 25 de Abril, em Portugal, não aconteceu graças a um partido político. Foi um golpe militar. Não sabemos, tudo pode acontecer… Mas não acredito numa guerra civil. Felizmente, não há nem meios nem intenção nem desejo para fazer isso. O que poderia acontecer, eventualmente, como aconteceu noutros países, são erupções de violência, o que se chamava antigamente “jacqueries”, levantamentos populares. Isso não é impossível que aconteça, porque as pessoas estão a atravessar momentos muito dramáticos. Não há comida, não há luz, não há água, não há saúde… e, ao mesmo tempo, o filho do José Eduardo compra um relógio de 500 mil euros. Há uma revolta muito grande! Essa revolta pode explodir de um momento para o outro por uma pequena coisa.
Um escritor, tal como os artistas das mais diversas áreas, têm o dever cívico e moral de criticar, denunciar, contestar?
Acho que a literatura pode desempenhar esse papel, chamar a atenção e tentar discutir alguns desses problemas.
Já teve a sua casa vigiada ou o telefone sob escuta pelas opiniões que defende?
Claro, mas a gente já sabe que isso acontece. Não é pior do que aquilo que acontece com todos os que estão nesta luta. Todos nós passamos por isso.
Não há consequências maiores?
Felizmente não dependo economicamente de empresas angolanas, por isso tenho uma situação privilegiada a esse nível. O regime atua de todas as maneiras: pressionando a família, os empregadores, as empresas às quais estão ligados… Fazem campanhas de difamação. Já todos passámos por tudo isso.
Recentemente, Isabel dos Santos fez críticas muito duras ao Luaty e aos jovens ativistas, aos partidos da oposição e a jornais portugueses, acusando-os de “difamação e desinformação”. No seu último artigo no site Rede Angola foi acutilante: “Teremos eleições em Agosto (…). Ao contrário das restantes democracias não estamos habituados a mudar de presidente. Na nossa democracia atípica isso nunca aconteceu”. Isabel dos Santos também o criticou?
Talvez não leia os meus textos… Pode ser que ainda reaja, mas até agora não disse nada. Curiosamente, o marido dela fez um elogio muito grande ao Luaty. Disse publicamente que ele é um exemplo da verticalidade e da coragem do homem angolano. É muito interessante que isso seja feito por alguém do ‘outro lado’.
E houve alguma reação pública por parte do regime?
Não, não houve. Mas vou-lhe ser franco, tenho a certeza absoluta de que todos admiram o Luaty. Na intimidade, não há ninguém que apoie o regime. Imagino que até o próprio José Eduardo se critique a si mesmo… Nunca conheci ninguém que, na intimidade, elogiasse o José Eduardo dos Santos. Toda a gente é contra ele pelo menos há uns bons 20 anos. E olhe que tenho privado com todo o tipo de pessoas: ministros, generais… Os seus homens de mão, que trabalham com ele diretamente, em privado e sem um microfone à frente, todos eles são críticos, todos eles são da ‘oposição’.
Isso faz pensar naquilo que se diz sobre o Brasil: “o país do futuro sempre adiado”. Aqui são os angolanos que adiam o futuro do país…
Sim, por isso não admira que as pessoas reconheçam que o Luaty seja um exemplo de verticalidade. É verdade!
O papel do Luaty é muito importante, mas não há ninguém dentro do regime que possa abrir um novo caminho?
Enfim, existem pessoas sérias dentro partido, mas não têm poder real. Na verdade, deveriam ser apoiadas, tal como todas as forças democráticas que existem em Angola.
Se houvesse esse apoio, acha que poderia funcionar como uma ‘bola de neve’?
O regime é muito frágil, pode cair a qualquer momento. Está preso por arames. O José Eduardo não vai sair para a rua como o Kadhafi fez. Assim que alguém ‘soprar’, ele mete-se num avião e vai-se embora. E aí vão todos – como eu imagino no meu livro. Por isso compraram um ‘aviãozinho’ há uns anos e têm autonomia diretamente até Moscovo.
Damos um salto no tempo e recuamos a 1993, ano em que publicou o livro “Lisboa Africana”, com o jornalista Fernando Semedo, e fotografias da Elza Rocha. Como seria hoje a ‘Lisboa africana’?
Não tem nada a ver. É muito mais rica! [sorriso] Teríamos que fazer outro livro. Houve até projetos para reeditar o livro, mas eu não quis porque perdi os meus companheiros nesse processo – o Fernando e a Elza – e depois porque já é outra cidade.
Mas merecia ser feito?
Merecia, mas dá um trabalho enorme! Teria que se fazer um outro. Nem sei como é que ainda não apareceu um ‘guia da Lisboa africana’. É uma pena que não exista, seria importante! Há muito mais coisas, há muito mais pessoas com quem falar… a cidade cresceu muito nesse sentido. Acho que Lisboa nunca teve uma vida tão africana como agora.
Daí à lusofonia é um passo. Dado o potencial da língua e cultura lusófonas, acha que a CPLP cumpre o seu papel?
A CPLP não existe! Mas as sociedades civis dos diversos países, sim. A CPLP é um projeto político que falhou redondamente e que começou muito mal. Não tem participação real. E a única coisa que deveria fazer era ajudar estas sociedades civis a coordenarem-se e dar instrumentos para se desenvolverem projetos. E não faz isso, não consegue. É um projeto falhado. Mas, não obstante, as coisas movem-se! [sorriso] Nunca como hoje houve tantas atividades cruzadas, tanta produção de portugueses, brasileiros africanos… Toda a gente trabalhando em conjunto, como é o caso de grandes músicos portugueses – penso no [António] Zambujo e na Carminho – a colaborar com músicos brasileiros. Na literatura, por exemplo, há escritores portugueses que estão a ser muito bem recebidos no Brasil. Estou-me a lembrar do Valter [Hugo Mãe], por exemplo, que é mais lido no Brasil do que em Portugal… Nunca como hoje houve tanta troca cultural, tanto conhecimento mútuo.
A cultura deve ser um bem de primeira necessidade?
A cultura é um bem de primeira necessidade! E mesmo as pessoas que precisam de sobreviver, de arranjar comida são produtoras de cultura: fazem música ou artes plásticas. Por exemplo, se for ao Brasil ou Angola, uma boa parte da produção musical vem desses setores menos favorecidos da sociedade. Historicamente, o samba nasceu nas favelas. São esses grupos mais carenciados que muitas vezes produzem mais cultura. As pessoas precisam disso!
A tradição oral continua viva em Angola. Falta passá-la para o papel?
Sim, mantém-se de maneiras diferentes. E há histórias extraordinárias em Angola. Agora, o que falta é o acesso ao livro. Não há redes de bibliotecas públicas, não há livrarias, não há editoras e, portanto, as pessoas não têm acesso aos livros.
Foi uma estratégia do regime para manter a população na ignorância?
Não sei se foi estratégia, acho que foi pura incompetência mesmo. Ganância, incompetência, corrupção, porque isso implicaria um pensamento. Não existe nem um pensamento para a maldade [riso].
Há mais de 20 anos que alimenta o seu diário com ideias, pensamentos e memórias. ‘Roubou’ alguma em particular para este livro?
Os sonhos, porque eu anoto muito os sonhos. Alguns dos que estão neste livro foram roubados ao diário.
Quer dizer que se lembra muitas vezes dos sonhos e toma notas?
Alguns sonhos, sim, recordo-me. Mas o problema dos sonhos é que são muito voláteis. Perdem-se rapidamente. Eu treinei-me para isso. Tenho um processo para memorizar sonhos quando acordo a meio da noite… Hei-de perder muitos, mas não perco todos.
Também tem escrito letras de canções para vários músicos, como o António Zambujo, que já referiu, ou o João Afonso. Como tem sido essa experiência?
Gosto muito! Primeiro é um trabalho em conjunto, depois é um processo de transformação: nós fazemos uma coisa e depois alguém pega nessa ‘coisa’ e faz dela uma outra. E normalmente fica muito melhor! Cresce, ganha outros sentidos. Gosto por isso, porque é uma surpresa. E adoro essa coisa da surpresa! [riso]
Toca algum instrumento?
Não, gostava muito mas não toco nenhum. Não tenho talento…
Se tivesse talento, que instrumento escolheria?
O violão, talvez. O Mia [Couto] toca violão… Não sei, aí sou totalmente incompetente.
Falou em Mia Couto, seu amigo de longa data e um dos primeiros leitores dos seus livros antes de publicados. É o seu crítico mais ‘cáustico’, digamos assim?
Não, não é.
Cáustico no sentido de exigente. Se forem brandos um com o outro não tem graça…
Sim, nesse sentido até devia exigir mais! Critica e aponta erros, mas ‘cáustico’ não é a definição certa. O Mia não consegue ser cáustico… [sorriso]
Alguma vez engendraram a dois o título de uma obra? Pode dizer qual?
Não lhe vou contar isso, mas acontece! [riso] Bem, posso dar um exemplo. Tinha um título inicial para “O Vendedor de Passados” que depois abandonei e que era realmente estúpido, e o Mia disse: “não, esse título não é bom, temos de descobrir outro”. Agora lembro-me disso…
Acha que Félix Ventura, o personagem que vendia passados, pode um dia vir a ser um “vendedor de futuros”?
Deveria ser, no sentido de construir… O que é um ‘vendedor de futuros’? É alguém que planifica para o futuro – deveriam ser os nossos políticos! [riso] O verdadeiro político deveria ser esse: alguém que imagina o futuro e que constrói e vai planificando essas vidas futuras. Infelizmente, não temos isso em Angola. Portugal está fora disso. Portugal está bem mais uma vez, mas o Brasil nem por isso…
Aparentemente, acontecem-lhe muitas situações inverosímeis. Usa-as como material literário?
Acho que acontece, sim. É a coisa de viver em Angola. O absurdo é tão presente, tão exagerado, que muitas vezes as pessoas o relativizam ou desvalorizam, não dão por ele. E acabam por não se aperceber que aquele pode ser um universo rico e que se pode explorar. Às vezes é bom sair para perceber isso, ter uma certa distância. Acontece muito com situações que vivi e que depois vou contando a amigos e pouco a pouco vou percebendo que têm potencial literário. Na altura eram situações relativamente triviais para mim… Quando acontecem connosco nunca são excecionais! [riso]
Gosta de correr riscos?
Acho que é importante correr riscos. A aventura é o inverso do tédio. Não vale a pena escrever se não for para correr riscos. Acho que os livros que nos dão gozo escrever, que escrevemos com paixão, são aqueles em que corremos riscos, dos quais a gente duvida no início. Aqueles processos em que dizemos ‘não estou preparado para isto, não vou conseguir’… Aqueles processos em que dizemos ‘não estou preparado para isto, não vou conseguir’… Esses são os projetos que vale a pena fazer. [sorriso]