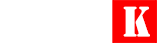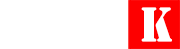Na verdade, o contrário é que teria sido a grande surpresa, ou seja, um processo civilizado, pacato e coroado pelo triunfo espontâneo da vontade geral sobre o egoísmo individual dos "ilustres" discípulos do célebre mestre de Florença, Nicolau Maquiavel. Mas nada disso aconteceu. No seu lugar, ofereceu-se ainda mais argumentos aos militantes do afropessimismo.
E isto, numa altura em que as memórias registam ainda imagens muito frescas da tragédia queniana em que, num ápice, milhares de Quenianos perderam as suas vidas por meros caprichos daqueles que eram supostos velar pela sua protecção, segurança e bem-estar.
Como poderá, então, África defender-se convincentemente diante dos seus detractores? Como explicar tamanhas reincidências em derrapagens que não fazem senão agravar e eternizar os sofrimentos dos governados? Até quando se continuará a imputar tais fiascos aos fantasmas do "imperialismo", ou a buscar raízes externas para todas as disfunções domésticas?
O novo Presidente nigeriano, Umaru Yar'Adua, cuja eleição em 2007 também fez muito ruído, tem estado a posicionar-se entre os raros políticos africanos da sua estatura a contrariar a opinião geral. Para ele, em vez de olhar sempre para os "nossos antecedentes coloniais", os Africanos deviam envergonhar-se de algumas das suas práticas, e terem a coragem de admitir que muitas das suas desgraças são "infligidas ou perpetuadas" pelos próprios Africanos.
Muito antes dele, quando o também novo chefe de Estado francês, Nikolas Sarkozy, tentou, no famoso discurso pronunciado na Universidade Cheikh Anta Diop de Dakar, a 26 de Junho de 2007, utilizar a sua franqueza e enunciar essa mesma visão de Yar'Adua, ele foi vítima de ataques virulentos em quase todas as direcções, chamando-lhe nomes de todo o tipo, embora houvesse uns que o aplaudissem por encontrarem no seu monólogo algumas verdades cruas.
E agora, depois de vencer por maioria simples (47,8 por cento) a primeira volta das eleições de 29 de Março último, o líder da oposição zimbabweana, Morgan Tsvangirai, viu-se forçado a desistir, à ùltima hora, do segundo sufrágio que deveria disputar com Mugabe, o veterano de 84 anos de idade instalado no poder há quase três décadas, mas alérgico à substituição.
Para justificar a sua decisão desertora, que reconduziu quase automaticamente Mugabe no seu cadeirão palaciano, Tsvangirai, líder da então maior força política da oposição, o Movimento para Mudança Democrática, invocou a repressão e intimidação contra os seus apoiantes.
Temendo pela sua vida no seu próprio país, teve de se refugiar em casa alheia, a Embaixada da Holanda, que o acolheu de mãos abertas e, embora anunciando que ele "não pediu asilo político", prometeu protegê-lo "até que a situação de segurança (no país) melhorasse".
Chamou o processo eleitoral de "comédia violenta" em que, segundo ele, teriam sido mortos pelo menos 80 dos seus militantes na sequência da vitória do seu partido nas legislativas. "Participar nestas eleições (segunda volta) significaria pedir às pessoas que façam algo que vai custar-lhes a vida", explicou-se resignado.
Com esta atitude, Morgan Tsvangirai mostrou ter compreendido e levado a sério o recado que Mugabe, ora subreptícia ora abertamente, foi disseminando ao longo de toda a sua campanha eleitoral quando, como que a brincar, prometeu jamais permitir que, enquanto em vida, o país por que tanto lutou pela sua libertação do jugo colonial fosse governado por outras pessoas.
Em "outras pessoas", Mugabe falava, sobretudo, dos seus opositores, quer dentro quer fora do seu próprio partido, que ele considera "lacaios do imperialismo", este termo que parecia há muito enterrado com o fim da Guerra Fria mas que, afinal, ainda se mantém "vivinho da silva".
Mas as múltiplas tácticas repressivas utilizadas para coagir os Zimbabweanos não bastaram para encobrir o declínio irreversível da sua popularidade, pois a sua nova investidura resultou do voto de menos de metade (42 por cento) dos cinco milhões 900 mil eleitores inscritos, que na sua esmagadora maioria optaram pelo boicote, solidarizando-se assim com Tsvangirai.
Apesar de "maquisard", Mugabe não é nenhum iletrado. Pelo contrário, ele é, dos actuais chefes de Estado africanos, um dos mais instruídos, com um repertório académico de sete títulos universitários, incluindo dois mestrados, um em Direito e outro em Economia.
O verdadeiro problema parece estar no sentimento latente da classe política africana de que o modelo republicano assente em eleições gerais periódicas por sufrágio secreto e universal é uma pura imposição do Ocidente feita sem acomodar aspectos cruciais da realidade aborígene.
Mas se no discurso rareiam casos de coragem política para apontar claramente os modelos alternativos que seriam mais consentâneos à realidade africana, na prática abundam hábitos que só confirmam que essa democracia chamada ocidental é "consumida" a contragosto.
O coronel Muamar Kadafi da Líbia é dos poucos que assumem sem equívocos tal visão. Ele nunca teve "papas na língua" para dizer publicamante que a tradição africana aconselha para as populações um "líder único" e vitalício, como ele, e nada mais. Nada de partidos políticos, nada de deputados eleitos e, numa só palavra, nada de eleições democráticas à moda ocidental.
Obviamente, a dedução será que os que, estando no poder, aceitam organizar tais eleições fazem-no apenas "para o Inglês ver" e ganhar "legitimação", mas não por convicção. Daí que, como dizia Maquiavel, todos os meios são válidos para se atingir o fim, a sua manutenção, ainda que isso custe o sangue dos eleitores e a perturbação da vida socioeconómica do país.
Não parece pois ter uma explicação distinta a tendência para se dramatizar as eleições. Desde as engenharias políticas para se alterar os textos jurídicos fundamentais à diabolização dos resultados quando desfavoráveis, anula-se praticamente a vontade popular para depois, numa auténtica tempestade no copo de água, se institucionalizar crises pós-eleitorais desnecessárias ou inexistentes e eternizar assim o famoso mecanismo de governo de "unidade nacional".
Esses governos de unidade nacional, que de unidade nacional só têm o nome, não são senão o esvaziar do conteúdo essencial da noção original de democracia e soberania popular, princípios amplamente defendidos nos textos constitucionais dos países da África moderna, mas de que os políticos só se lembram quando na oposição.
Pilares tais como os princípios da legalidade, da separação de poderes, do respeito pelos direitos fundamentais dos cidadãos e da justiça social ficaram definitivamente confinados ao papel, e os conteúdos da carta magna completamente vulgarizados e expostos ao bel-prazer.
É a crise do Direito, que se vai arrastando de forma pandémica sob o olhar impotente e desarmado da chamada sociedade internacional sempre refugiada ora no anacrómico princípio da não ingerência, a consubstanciar a intangibilidade da soberania nacional, ora no da silenciosa "solidariedade africana", muito facilmente confundível com a cumplicidade.
No seu tempo, o antigo Secretário-Geral das Nações Unidas, Kofi Annan (1997-2007), bateu-se, mas em vão, por uma nova adaptação do conceito de soberania nacional para abrir uma brecha à intervenção externa directa nos Estados que maltratam as suas populações, que ele achava não constituírem propriedade privada dos governantes. Mas ninguém lhe deu ouvidos.
Mais tarde, depois de Annan deixar o seu cargo na ONU, passou a destacar-se, entre os seus seguidores, o então presidente da Comissão da União Africana (UA), Oumar Alpha Konaré. Comovido na altura pelos desastres humanitários em Darfur (Sudão), na Guiné-Conakry, na RD Congo, na Somália e noutros pontos, ele tentou voltar à carga convidando os líderes africanos a abandonar o princípio da não ingerência e substituí-lo pelo da "não indiferença".
Para ele, é inadamissível a ausência de reacção dos Estados que apenas se "contentam com o papel de observador", limitando-se a fazer condenações em comunicados. Mas, tal como Annan, o antigo chefe de Estado maliano viu as suas ideias aterrarem em saco roto.
E, desde que pegou a moda impune da negociação do poder entre os políticos, e não mais entre estes e o povo, que é apenas usado para "legitimar" vontades pessoais, aqueles passaram a ter luz verde para fazer as suas populações de reféns, utilizando o seu próprio voto de forma abusiva para as castigar. Tudo isso, diante da cumplicidade por omissão do mundo exterior, que fica à espera da carnificina para aparecer com a magia de governo de unidade.
Afinal, de que vale para o povo perder o seu precioso tempo indo às urnas convencido de estar investido do poder soberano para escolher os seus dignos representantes, quando, no fim, a sua opção é simplesmente ignorada e transformada numa espécie de crime até, finalmente, lhe serem impostos governantes que não escolheu?
* Fred Cawanda
Fonte: PANA