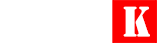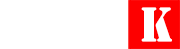Luanda - Carlos Moore veio a Luanda para participar da homenagem a Mário Pinto de Andrade, de quem foi amigo, nos idos anos de 1960/70. Ao discursar sobre a grande figura que foi este “intelectual emprestado à política”, logo nas primeiras frases, proferidas de pé, e quase de improviso, incendiou de entusiasmo a plateia do Auditório da Universidade Lusíada de Angola que estava repleto de jovens estudantes que não se cansavam de redobrar as palmas, assobios e a algazarra, para expressarem o seu apoio e contentamento por aquelas palavras.
Fonte: Jornal AGORA
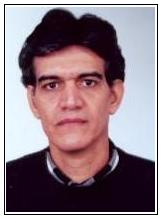 O “etnólogo e cientista político cubano”, para falar de Mário Pinto de Andrade, de forma viva e fiel à sua memória, quis, desde logo, demarcar-se da “África neocolonial”, dos dirigentes que apenas se interessam pelas riquezas naturais dos países e que não investem no homem africano. Desses dirigentes que se preocupam mais com a pessoalização do poder e com a egomania e nada com o destino dos seus povos. Firme e irreverente, perguntou, alto e a bom som, para incómodo dos dirigentes do partido da situação ai presentes: “o que será de Angola, quando o petróleo acabar?”. A pergunta continua no ar!
O “etnólogo e cientista político cubano”, para falar de Mário Pinto de Andrade, de forma viva e fiel à sua memória, quis, desde logo, demarcar-se da “África neocolonial”, dos dirigentes que apenas se interessam pelas riquezas naturais dos países e que não investem no homem africano. Desses dirigentes que se preocupam mais com a pessoalização do poder e com a egomania e nada com o destino dos seus povos. Firme e irreverente, perguntou, alto e a bom som, para incómodo dos dirigentes do partido da situação ai presentes: “o que será de Angola, quando o petróleo acabar?”. A pergunta continua no ar!
A semana passada, o Novo Jornal publicou uma entrevista que Carlos Moore concedeu a este hebdomadário, na sua passagem por Luanda. A entrevista é muito rica e interessante. Mesmo pessoas que se julguem bem informadas sobre a nossa história política encontrarão nela informação digna de registo. Retenho as palavras de Carlos Moore também porque elas abonam em minha defesa. Algumas vezes, abordei alguns dos temas tratados por ele e minhas palavras foram tidas como levianas, como fruto de ressabio ou mágoa pessoal. Por exemplo, em relação ao racismo em Cuba ou sobre a intervenção cubana, em Angola, ou ainda sobre as falsificações históricas dos movimentos de libertação nacional (seja no MPLA ou na UNITA).
Nesta entrevista, Carlos Moore, mais uma vez, deve ter incomodado os pobres “deuses domésticos”, pela franqueza e autenticidade da sua atitude perante a história de que é portador. Primeiro, conta a sua aventura de dissidente de esquerda do regime ditatorial dos Castro. A propósito, põe a descoberto a questão do racismo em Cuba e mostra que ela não é mera “propaganda imperialista” como o regime pretende. Tomei contacto, pela primeira vez, com esta questão através de Régis Debray, num livro que ele escreveu para justificar a sua ruptura com o regime castrista, depois da fracassada aventura junto de Che Guevara, na Bolívia. Mas, muitos anos mais tarde, testemunhei esse racismo descarado e gritante, em Cuba, em 1981, já havia um bom tempo que as suas tropas expansionistas se encontravam em África e o regime fazia o discurso da demagogia internacionalista, do reencontro de Cuba com África e da revalorização da “cultura negra”, no seu país.
A questão, como é sabido, vem de longe, de uma longínqua e teimosa herança escravocrata. Não do regime de produção escravista mas da mentalidade, da sua teimosa ideologia. Carlos Moore explica que ainda no tempo de Fulgêncio Baptista, pessoas como o etnólogo e historiador Walterio Carbonell ou o sociólogo Juan Bettencourt levantaram o problema do racismo naquele país do Caribe. Quando Fidel de Castro chegou ao poder, em 1959, “negou-se a partilhá-lo com a maioria negra”. Os negros representavam então 35 a 45 por cento da população e estavam organizados em 525 agremiações. A “pequena burguesia hispano-cubana”, diz Carlos Moore, sob a capa do marxismo-leninismo e da revolução, baniu as chamadas “sociedades de cor”, prendeu ou exilou os intelectuais negros e proibiu os seus livros que falavam do problema e insistiu na ideia de que havia uma “democracia racial”, traduzida na demagogia de que a única cor em Cuba era a “cor cubana”.
Carlos Moore que acreditava na revolução em curso, quis uma oportunidade para discutir o problema do racismo. Em 1961, levou o seu “protesto ao chefe do exército, o comandante Juan Almeida Bosques”. Acabou preso. Levaram-no para a chamada Villa Marista, onde esteve “numa cela, com perto de 30 pessoas, que iam sendo levadas, noite após noite, para serem fuziladas”. Esteve aí “28 dias à espera de ser morto” e só escapou “porque na altura trabalhava com um grande dirigente dos direitos civis dos Estados Unidos, Robert Williams que estava a viver em Cuba sob a protecção de Fidel de Castro”. Aquele, ao saber da sua prisão, “moveu contactos junto do chefe da contra-inteligência cubana, Manuel Piñero Losada” e acabou por ser libertado. Persistiu! E, “um dia, em 1962, estava numa rua de Havana quando os carros de Fidel pararam do outro lado da rua”. Impulsivamente começou a correr, a segurança quase o ia matando mas Fidel não permitiu e perguntou-lhe: “Quem és tu?”. Carlos Moore respondeu-lhe que “fazia parte de um grupo de intelectuais revolucionários que não estava de acordo com a forma como ele colocava a questão racial”. El Comandante “ficou colérico” mas disse-lhe para ir ao seu gabinete e levar as preocupações do grupo “num papel e uma lista com os nomes de toda a gente envolvida”. Mais tarde, Célia Sanchez, braço direito de Fidel, recebeu-os e leu o manifesto do grupo. No dia seguinte estavam todos presos.
Ramiro Valdez Menéndez, actual vice-presidente cubano, era o chefe da polícia secreta e coube a ele o papel de inquisidor. Depois de seis horas de interrogatório, Carlos Moore assinou “uma confissão a dizer que não havia racismo em Cuba e que tinha sido contaminado pelas ideias do imperialismo, durante o tempo em que tinha vivido nos Estados Unidos. Ou isso ou a morte”. Ainda assim foi parar a um “campo de reabilitação” (um dos goulag cubanos, de triste memória), de onde saiu depois de um acidente. Puseram-no então a trabalhar no Ministério de Informação e depois no Ministério das Relações Exteriores. Um dia, aproveitou uma confusão no trabalho, apanhou um táxi e refugiou-se na embaixada da Guiné-Conacri. Já tinha compreendido que o regime de Castro & sus muchachos “era uma máquina infernal que estava a tragar toda a gente, inclusive da esquerda cubana e revolucionários”.
Saiu do seu país, em direcção ao Cairo, a 4 de Novembro de 1963, depois de três meses de negociações entre as autoridades cubanas e o embaixador guineense, “apoiado pelos embaixadores do Mali, Egipto e Gana”. Em África, trabalhou com os movimentos de libertação nacional, nomeadamente angolanos (disto falaremos em próximo texto).
Depois foi para Paris e passou por outras academias. Escreveu, entre outros livros, “Castro, os Negros e África”, onde defende a ideia segundo a qual “os dirigentes cubanos começaram a construir a sua política para a Africa a partir de 1965, depois da crise dos mísseis, quando Cuba ficou altamente dependente da União Soviética”.
A orientação de Castro era a de estabelecer uma série de Estados vassalos que gravitassem a volta de Cuba que se afirmaria então como potência intermédia, “para fazer com que a URSS dependesse de Cuba para aceder aos recursos africanos” e, igualmente, “impedir a entrada da China que estava a apostar forte em divisões dentro dos movimentos africanos”. Por isto, a intervenção cubana, em Angola, tendo por pretexto o combate contra o apartheid sul-africano e a libertação total de África do colonialismo, já “estava preparada há muito tempo, e tinha como objectivo colocar o MPLA no poder”, numa situação de fragilidade que lhes permitiu “levar para Cuba todos os recursos naturais que puderam”, num acto de “pilhagem geral”. Por isto, segundo Carlos Moore “há que terminar com a mitologia mentirosa que apresenta a acção de Cuba, em África, como uma acção de puro altruísmo”.
Carlos Moore que agora vive em São Salvador, da Bahia, continua utópico, lúcido e combatente e afirma categórico: “não entrego a ninguém o sonho da dignidade humana”.