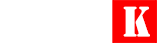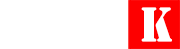Lisboa - O dia 30 de agosto foi escolhido pela ONU como a data destinada a recordar as vítimas de um dos mais cruéis crimes contra a Humanidade: o desaparecimento forçado de pessoas
Fonte: Publico
 Quando nos falam em “desaparecidos”, vêm-nos logo à memória os tristes casos das ditaduras argentina, chilena, uruguaia ou brasileira dos anos 1960-1970. Mas não foi só nestes países da América Latina que se usou essa prática como arma política para destruir e espalhar o terror aos opositores de regimes tirânicos. Neste dia 30 de agosto de 2020, gostaria de destacar um caso de que pouco se fala e, no entanto, nos é tão próximo: o de Angola.
Quando nos falam em “desaparecidos”, vêm-nos logo à memória os tristes casos das ditaduras argentina, chilena, uruguaia ou brasileira dos anos 1960-1970. Mas não foi só nestes países da América Latina que se usou essa prática como arma política para destruir e espalhar o terror aos opositores de regimes tirânicos. Neste dia 30 de agosto de 2020, gostaria de destacar um caso de que pouco se fala e, no entanto, nos é tão próximo: o de Angola.
Refiro-me especificamente ao banho de sangue que se seguiu aos acontecimentos do dia 27 de maio de 1977. Milhares de angolanos e angolanas foram vítimas de “prisão, de sequestro ou qualquer outra forma de privação de liberdade (…) perpetrada por agentes do Estado ou por pessoas ou grupos de pessoas agindo com a autorização, apoio ou aquiescência do Estado”, que se recusou posteriormente a “admitir a privação de liberdade ou a ocultação do destino ou do paradeiro da pessoa desaparecida, privando-a assim da proteção da lei.” A definição entre aspas é a da ONU.
No dia 27 de maio de 1977, Luanda foi palco de ações militares desencadeadas por setores críticos do MPLA, alinhados com dois membros afastados do comité central do partido, Nito Alves e José Van-Dunem. Tropas revoltosas tomaram a cadeia de São Paulo e ocuparam a rádio nacional, que passou a transmitir apelos à realização de uma manifestação diante do palácio presidencial. A intervenção das tropas cubanas pôs fim às manifestações e ações militares rebeldes. Na sequência da descoberta de seis corpos de militares e políticos – entre eles o ministro das Finanças, Saidy Mingas, e o comandante Dangereux –, o presidente Agostinho Neto acusou os dissidentes de serem os responsáveis por essas mortes: “Certamente, não vamos perder muito tempo com julgamentos. Nós vamos ditar uma sentença”, anunciou Neto, escancarando as portas para o massacre que se seguiu.
É difícil determinar a dimensão da matança, já que os números estimados vão de oito mil a 80 mil. A Amnistia Internacional, calculou as vítimas do 27 de maio angolano em 30 mil. Mas, mesmo indo pelos mínimos, já temos um crime de insuportáveis proporções. Comparemos: na Argentina, o número mais citado pelas Mães da Praça de Maio e organizações de direitos humanos é de 30 mil desaparecidos, dos quais há cerca de nove mil identificados. A Argentina tinha 26,6 milhões de habitantes em 1977. A população angolana era, na mesma data, 7,5 milhões. Na Argentina, temos assim, um desaparecido para cada 886 habitantes, seguindo a estimativa, ou um para cada 2.955 habitantes se considerarmos apenas os desaparecidos já identificados. Em Angola, se seguirmos a estimativa da Amnistia Internacional, temos um desaparecido para cada 250 habitantes, e mesmo adotando a estimativa de oito mil teremos uma vítima a cada 937 habitantes. Estarrecedor.
As famílias têm o direito de saber a verdade
Mas as vítimas dos desaparecimentos forçados não são apenas as diretas, isto é, os desaparecidos. São também “todo indivíduo que tiver sofrido dano como resultado direto de um desaparecimento forçado”. Baseada nisto, a ONU reconhece o direito das famílias de “saber a verdade sobre as circunstâncias do desaparecimento forçado, o andamento e os resultados da investigação e o destino da pessoa desaparecida”.
■Angola
No caso angolano, milhares de familiares de vítimas sofreram durante anos – e sofrem até hoje – sem poderem fazer o seu luto, dado que as autoridades do Estado se recusavam a assumir qualquer responsabilidade sobre os desaparecimentos, negando-se assim a fornecer certidões de óbito. Como consequência, viúvas e órfãos passaram meses ou anos sofrendo com a incerteza em relação ao destino dos seus entes queridos. E quando o passar do tempo os convenceu da sua morte, não conseguiram obter pensões, vender bens, refazer a sua vida, porque não possuíam o reconhecimento oficial do óbito.
O caso de Sita Valles
Um caso clamoroso de como as autoridades angolanas, isto é, os governos dos presidentes Agostinho Neto e José Eduardo dos Santos se negaram a reconhecer o direito das famílias a saber a verdade, é o de Sita Valles. Ex-militante do Partido Comunista Português, do qual se desligou por imposição de Álvaro Cunhal quando decidiu voltar à sua Angola natal, a jovem estudante de Medicina, companheira de José Van-Dunem, foi apontada pelo governo como uma das principais “cabecilhas” dos “fracionistas” (o nome que Agostinho Neto e a maioria do MPLA davam
No dia 19 de junho, o Jornal de Angola anunciou a detenção dos “criminosos Zé Van-Dunem e Sita Valles”, citando um comunicado do Ministério da Defesa. Mas depois disso, nada mais foi dito sobre o destino do casal. Sabemos, por um telegrama da embaixada portuguesa em Luanda, enviado em 8 de julho e citando “informações de boa fonte”, que ambos foram fuzilados. Os pais de Sita Valles passaram o resto das suas vidas tentando incansavelmente obter notícias sobre o seu paradeiro e também do seu irmão Ademar, que não tinha atividade política e foi preso apenas devido ao nome. (Ademar terá sido morto na última vaga de fuzilamentos, em março de 1978.) Todos os seus esforços foram inúteis. Nunca obtiveram resposta.
Os mesmos esforços foram feitos pelo outro irmão de Sita, Edgar, que escapou à morte por ter regressado a Lisboa antes do 27 de maio. Ele e outros, como os familiares de Rui Coelho, preso apesar de nem estar em Angola no dia 27 de maio e fuzilado, não se cansaram, nestes 43 anos, de exigir o seu direito à verdade.
Durante todo este tempo, porém, o assunto 27 de maio foi um tabu. Os governos dos presidentes Agostinho Neto e José Eduardo dos Santos recusaram-se teimosamente a mencionar o sucedido. E o terror provocado pelo massacre sistemático assegurava um silêncio dos cemitérios em Angola.
Presidente João Lourenço reconhece violações dos direitos humanos
O governo de João Lourenço mudou a orientação do “tabu” e pela primeira vez reconheceu num documento oficial do Ministério da Justiça que, após o “27 de maio”, registou-se um “cortejo de atentados aos Direitos Humanos”. Por sua iniciativa, foi formada uma comissão para implementar um Plano de Reconciliação em Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos.
A iniciativa, que poderia ser positiva se seguisse o modelo, por exemplo, da Comissão da Verdade sul-africana, corre porém o risco de se tornar um mero expediente para pôr uma pedra sobre o assunto sem o esclarecer. Isto porque o atual governo angolano tem demonstrado uma estranha interpretação de quem são as vítimas do 27 de maio.
Numa entrevista recente ao Jornal de Angola, o ministro da Justiça, Francisco Queiroz, fala como se existisse uma simetria entre os mortos e desaparecidos, por um lado, e os seus carrascos, por outro. No 27 de maio teria havido “um erro político histórico por parte de entidades políticas que contestaram e atentaram contra o regime estabelecido”, que provocou um outro erro político “cometido pelas entidades políticas detentoras do poder”. Estas “tomaram medidas” que constituíram “uma má gestão da crise”. “Ambos erros geraram vítimas e ambos erros são condenáveis”, diz o ministro. A conclusão é lapidar: “Toda a nação foi e é vítima. Quer do lado activo quer passivo, são todos vítimas. As que cometeram o erro de desestabilizar o regime ou atentar contra ele e as que do lado do poder instituído cometeram o erro de não medir as consequências da má gestão da crise. As vítimas são os que morreram num e no outro lado, os que sofreram com o medo, incertezas e todo aquele clima que se gerou”.
Todos vítimas?
Em palavras simples, sem subterfúgios: são tanto vítimas os carrascos de milhares de angolanos e angolanas, quanto os assassinados desaparecidos e os seus familiares e órfãos. A reconciliação seria assim entre as vítimas dos dois lados, e portanto “não valeria a pena” levantar questões do tipo ‘quero conhecer quem matou, quem provocou o medo...’ com espírito revanchista. Isso pode levar a ódios e contra-ataques do mesmo tipo.”
Toda a argumentação do ministro baseia-se no episódio que serviu de pretexto para o apelo ao assassinato indiscriminado: a morte dos seis dirigentes do MPLA e membros do governo já mencionados, que teriam sido assassinados pelos “nitistas”. Trata-se de um episódio controverso e que suscita dúvidas e questionamentos sobre a real autoria dos crimes. Mas mesmo que a responsabilidade das mortes fosse dos dissidentes, nada justifica o que se seguiu: os milhares de assassinatos extrajudiciais, o cortejo de pelotões de fuzilamento, as torturas e ações de terror por parte do Estado angolano, os campos da morte onde foram internados milhares. A morte de seis pessoas não justifica a execução de 30 mil, ou de oito mil, se seguirmos os mínimos. Muito menos a violação dos mais elementares direitos humanos.
Quais as condições para a verdadeira reconciliação?
Assim, neste dia 30 de agosto, é o momento de apoiar as exigências dos órfãos e familiares dos desaparecidos angolanos, agrupados na Plataforma 27 de Maio.
Num documento divulgado em 27 de maio deste ano de 2020, a plataforma considera essencial “a realização de um registo histórico completo com vista a apurar as violações e abusos, a identificação pormenorizada das vítimas e perpetradores, bem como o papel das várias instituições estatais e não estatais, tal como de pessoas singulares com responsabilidade moral e material nas violações e abusos ocorridos durante a repressão sangrenta”, argumentando que só assim “estarão reunidas as verdadeiras condições para uma reconciliação e regeneração social”.
A Plataforma 27 de Maio mantém também “a reivindicação de um pedido de perdão expresso, por parte do Estado ou seus agentes, por tais crimes”. Além disso, a Plataforma considera “absolutamente fundamental garantir a entrega dos restos mortais das vítimas desaparecidas às suas famílias”.
Finalmente, a Plataforma 27 de Maio insta o governo angolano “a observar sem reservas o disposto no artigo 4º do Ato Constitutivo da União Africana sobre a Política de Justiça Transicional, que orienta que na resolução pacífica dos conflitos, os governos membros devem sempre levar em conta o respeito pelo carácter sagrado da vida humana e a condenação e rejeição da impunidade.”
Caso isto não aconteça, a Plataforma, como entidade representativa das vítimas, considera ter “plena legitimidade, à luz do Direito Internacional, de impugnar a política de impunidade que insiste adotar como modelo, numa clara intenção de desresponsabilizar os responsáveis pela chacina perpetrada contra milhares de angolanos”.