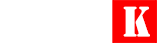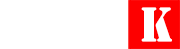Luanda - Nesse dia de 2013, o carro fúnebre entrou por uma grande porta do R20 que estava do nosso lado, os tios e as tias já estavam ao redor da urna para dizer as últimas palavras antes de fechá-la definitivamente. O tio Eduardo, que chamamos de Tio Duaro, surpreendeu a todos quando começou a chorar e desabafar na frente do caixão da irmã. Primeiro perguntou porque razão ficava com tantos sobrinhos sozinho, "eles precisam de mais tios, então porquê?", gritou com as mãos no ar em aborrecimento. Essa era a mensagem que ele estava a enviar para os seus antepassados, ele estava a perguntar porque é que todos os seus irmãos haviam partido tão cedo e só ele ficava nos filhos da sua mãe. E dirigiu-se depois directamente à irmã, que estava deitada na urna, para lhe dizer, como se o ouvisse: “Para onde vais, diz-lhes que precisamos da protecção e bênção deles! Se eles decidiram te chamar, não temos como impedi-los! É a vontade deles, é também a vontade de Deus. Dá cumprimentos a todos e pensem sempre em nós!", concluiu em lágrimas, depois de citar outra ladainha de nomes de familiares que já haviam partido.
Fonte: Club-k.net
 Essas surpreendentes litanias dirigidas aos antepassados invadiram o espaço da casa de tecto alto em que nos encontrávamos e a ordem do Quartel-General do Comando do Exército. Ouvimos com ternura a mensagem do Tio Duaro, era a voz matrilinear, a voz mais legítima dos bakongo, e naquele preciso momento era o nosso representante, através do qual estabelecemos contacto com os nossos antepassados. As lágrimas do Tio Duaro falavam da dor profunda que todos sentíamos, declaravam o nosso medo que pedia clemência aos nossos antepassados, porque nos tiravam prematuramente a nossa mãe. O Tio Duaro temia por si mesmo, temia pela responsabilidade que lhe era dada, mas sobretudo temia por nós. Na cultura dos bakongo, a família é a base da vida e os tios, principalmente maternos, são os seus pilares. E os outros tinham ido todos para a aldeia dos antepassados, alguns tinham atingido uma idade avançada mas outros eram mais jovens do que o Tio Duaro e era isso que ali denunciava. Além disso, as suas irmãs também seguiam uma a uma, e algumas eram mais novas que a nossa mãe e ele. Na verdade, o fenómeno precisava da mediação dos ancestrais, segundo o Tio Duaro, eles tinham que impedir isso, é o papel deles, pois a vida é o único princípio em que a cultura dos bakongo acredita, até que a natureza faça a sua obra; isto é, nos tira do mundo depois de muito tempo de vida. Nessa cultura, a morte prematura cria zanga, perturba a vida e assusta a comunidade. Foi assim com a morte da nossa mãe, que viveu até os 75 anos, o que foi considerado cedo na lógica dos bakongo. E ela não tinha adoecido, nem tinha chegado aos 98 anos que a sua mãe tinha atingido e a sua avó tinha ultrapassado. Isso se somava ao facto de que muitos dos seus anciãos, mulheres em particular, ainda estavam vivos. Era isso também que fazia o seu irmão lamentar, pois a vida assim terminada era uma praga para a compreensão dos bakongo. Todos compreendemos o que o Tio Duaro quis dizer com o seu apelo e as mulheres circundaram as bordas da urna com mais devoção. Algumas prostraram-se inteiramente sobre ela com gritos desconcertantes e tentavam abraçar a cabeça da nossa mãe, que estava no fundo do vidro, enquanto outras agitavam os seus harmoniosos lenços brancos no ar, passando-os pelas extremidades da urna, da cabeça aos pés. Foi um momento pitoresco e bonito da nossa civilização, apesar da dor.
Essas surpreendentes litanias dirigidas aos antepassados invadiram o espaço da casa de tecto alto em que nos encontrávamos e a ordem do Quartel-General do Comando do Exército. Ouvimos com ternura a mensagem do Tio Duaro, era a voz matrilinear, a voz mais legítima dos bakongo, e naquele preciso momento era o nosso representante, através do qual estabelecemos contacto com os nossos antepassados. As lágrimas do Tio Duaro falavam da dor profunda que todos sentíamos, declaravam o nosso medo que pedia clemência aos nossos antepassados, porque nos tiravam prematuramente a nossa mãe. O Tio Duaro temia por si mesmo, temia pela responsabilidade que lhe era dada, mas sobretudo temia por nós. Na cultura dos bakongo, a família é a base da vida e os tios, principalmente maternos, são os seus pilares. E os outros tinham ido todos para a aldeia dos antepassados, alguns tinham atingido uma idade avançada mas outros eram mais jovens do que o Tio Duaro e era isso que ali denunciava. Além disso, as suas irmãs também seguiam uma a uma, e algumas eram mais novas que a nossa mãe e ele. Na verdade, o fenómeno precisava da mediação dos ancestrais, segundo o Tio Duaro, eles tinham que impedir isso, é o papel deles, pois a vida é o único princípio em que a cultura dos bakongo acredita, até que a natureza faça a sua obra; isto é, nos tira do mundo depois de muito tempo de vida. Nessa cultura, a morte prematura cria zanga, perturba a vida e assusta a comunidade. Foi assim com a morte da nossa mãe, que viveu até os 75 anos, o que foi considerado cedo na lógica dos bakongo. E ela não tinha adoecido, nem tinha chegado aos 98 anos que a sua mãe tinha atingido e a sua avó tinha ultrapassado. Isso se somava ao facto de que muitos dos seus anciãos, mulheres em particular, ainda estavam vivos. Era isso também que fazia o seu irmão lamentar, pois a vida assim terminada era uma praga para a compreensão dos bakongo. Todos compreendemos o que o Tio Duaro quis dizer com o seu apelo e as mulheres circundaram as bordas da urna com mais devoção. Algumas prostraram-se inteiramente sobre ela com gritos desconcertantes e tentavam abraçar a cabeça da nossa mãe, que estava no fundo do vidro, enquanto outras agitavam os seus harmoniosos lenços brancos no ar, passando-os pelas extremidades da urna, da cabeça aos pés. Foi um momento pitoresco e bonito da nossa civilização, apesar da dor.
O Tio Duaro considera-se cristão por causa da colonização. Mas naquele dia, lembrei-me da nossa verdadeira relação com o cristianismo. O Tio Duaro estava convencido de que os seus ancestrais esperavam a sua irmã na sua aldeia e que ela iria conviver lá com eles incondicionalmente, ao contrário do que diz o deus trazido pelos Brancos. Percebi que a colonização não nos destruiu completamente, pelo menos não muito profundamente, excepto talvez os Assimilados completamente alienados e totalmente irrecuperáveis. Então, acho que ainda há possibilidades de regeneração, que ainda podemos encontrar e reabilitar o nosso fôlego para recuperar a nossa verdadeira alma, aquela que nos liga aos nossos ancestrais. O meu tio fez o que fez espontaneamente, embora se diga cristão. Foi, portanto, o seu verdadeiro ser que se expressou naquele dia, porque a nossa africanidade, para quem ainda a tem, expressa-se naturalmente em momentos de dor e alegria. Foi o que entendeu o padre e colonialista belga Placide Tempels na sua pesquisa publicada no livro “La philosophie bantoue”. Se muitos angolanos hoje estão alienados, é principalmente por causa do neocolonialismo perseguido pelos governantes aculturados que os governam. Assim, eles nunca poderão compreender o fenómeno que fez com que uma amiga da nossa mãe a visse viva em África no exacto momento em que ela estava na morgue de Paris e uma parte da família estava em pranto na Igreja do Pastor Tusamba, La Paix de L’Éternel, também em Paris. Essa amiga da nossa mãe disse-nos ao telefone, quando ligamos para ela para informar da morte, que ela e a irmã a viram naquele mesmo dia e até planearam ir vê-la depois para passar um tempo juntas. Mas depois ela entendeu o significado daquela presença, ela é uma africana não alienada. E também compreendemos, pois a nossa mãe tinha pedido para ser enterrada ali se não fosse enterrada em Mbanza-a-Kongo ou Luanda. É uma dimensão da nossa cultura que o colonizador quis sujar para melhor a combater. E é também esta cultura que os Assimilados e Afro-Convenientes do MPLA impediram de florescer quando tomaram o poder e toda a cena cultural e intelectual do país na Independência para criar um país bizarro e perdido culturalmente. E a caminho do cemitério, em Luanda e precisamente no Miramar, depois de uma longa e penosa batalha contra automobilistas indisciplinados e incivilizados, um energúmeno de mota, que conduzia a alta velocidade, irritou-se ao ponto de mostrar o seu dedo do meio a todo o cortejo fúnebre. Lembrei-me da minha infância em Mbanza-a-Kongo: deixávamos passar um cortejo fúnebre, em sentido, as nossas cabeças abaixadas ao chão. Sim, estávamos conscientes de nós mesmos, estávamos conscientes da nossa sociedade e dos outros. Esta é a definição de ser civilizado.
Ricardo Vita é Pan-africanista, afro-optimista radicado em Paris, França. É colunista do diário Público (Portugal), colunista lifestyle da revista Forbes Afrique, cofundador do instituto République et Diversité que promove a diversidade em França e é headhunter.