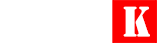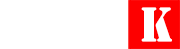«É preciso um líder que seja capaz de gerir as vitórias com sentido de Estado, como o actual Presidente tem feito. É preciso consolidar as instituições democráticas que estão em constituição ainda e criar as bases para um reequilíbrio em termos de distribuição da riqueza, etc. Precisamos de um líder com essa capacidade e, no espectro político actual do país, eu não vejo outro que não José Eduardo dos Santos para desempenhar esse papel».
Os Filhos da pátria soma-se aos seus outros três livros de crônicas, Imitação de Sartre e Simone de Beauvoir, O serial killer e O dia em que o Pato Donald comeu pela primeira vez a Margarida, todos marcados pela sua observação do cotidiano do país, em especial o de Luanda. Quantas histórias se pode encontrar e imaginar nessa capital grande e caótica de um país em desenvolvimento?
Muitas. A pergunta é se os escritores são realmente capazes de dar conta de todas essas histórias. Felizmente, para todos nós, angolanos e africanos em geral, não faltam histórias. O desafio é dar conta dessas histórias todas.
Luanda é uma cidade que eu amo particularmente, é a cidade em que cresci e realmente tem passado por uma série de transformações. É a cidade africana mais antiga ao sul do Saara, uma cidade cheia de história e histórias. É uma cidade que nos últimos anos cresceu caoticamente, desmesuradamente, por força da guerra que ocorreu em Angola de 1975 a 2002; ela foi indiretamente afetada pela guerra, porque serviu de refúgio para milhões de angolanos que fugiram de outras regiões do país.
Cresceu de 500 mil habitantes em 1975 para, por baixo, 4 milhões hoje (não há censo no país desde 1970), e sem poder acompanhar esse ritmo de crescimento em termos de infra-estrutura. Agora que a guerra acabou, está-se a fazer um esforço grande para isso. de qualquer forma, Angola toda está representada em Luanda. Angolanos de todas as origens aportaram a Luanda e lá se enraizaram e dificilmente voltarão para seus lugares de origem.
É um melting pot autêntico, além do mais, é uma cidade cada vez mais cheia de cidadãos de outras nacionalidades. Um grande caldeirão com problemas muito grandes, que para nós são uma matéria-prima riquíssima.
Como faz essas observações que inspiram as suas histórias?
Felizmente, como eu toco muitos apitos, tenho a sorte de ter vários contatos. Sou jornalista profissional há mais de 30 anos; além disso, como deputado, tenho a obrigação de estar em contato com as pessoas; como professor, estou com os jovens, que são sempre bastante estimulantes. E eu sempre gostei de Luanda, gosto de conhecer as cidades — mesmo as estranhas — gosto de ver não com olhar de turista, mas por dentro. E eu me considero um razoável conhecedor de Luanda. Portanto, sou bom ouvinte.
Não sou muito extrovertido como pessoa, mas bom ouvinte, estou sempre atento às histórias que estão no ar. Temos que captá-las e transformá-las do ponto de vista literário. Para que uma história qualquer se transforme em literatura, é preciso um trabalho de mediação literária, esse processo que transforma os episódios do dia-a-dia em literatura.
Morei muito tempo num bairro central, Maculussu, um bairro cheio de histórias, que já entrou na literatura angolana há muito tempo, grandes autores como Luandino Vieira escreveram sobre ele; mas há dois anos estou a morar em uma área de expansão da cidade, um pouco fora do centro, chamada Talatona, no Luanda Sul.
O uso da ironia e do humor é forte na sua literatura. É um recurso intencional?
Um escritor queniano, Ngugi wa Thiong’o, costuma dizer que não se pode compreender a África sem o humor. Por outro lado, não sei se foi Bernard Shaw que disse: "Humor é coisa séria". Realmente, é uma ferramenta que uso por um lado naturalmente, porque embora eu não seja extrovertido, também me considero uma pessoa com grande capacidade de ironizar, de usar o humor.
Por outro lado, é um recurso deliberado para discutir, questionar, ridicularizar e desconstruir os mitos que existem em qualquer sociedade, que são importantes, mas que é bom também desfazê-los para que a própria sociedade reflita sobre si própria. Portanto, eu diria a ironia em suas diversas facetas serve para questionar uma série de verdades absolutas. Não só verdades sociais, políticas, morais, mas também verdades literárias. Brinco com isso tudo nos contos que tenho escrito.
Por que não dá para enxergar a África sem humor?
Uma observação antes de responder: África são várias Áfricas; ela não é disforme, tem vários países com suas especificidades, suas culturas. A África ao sul do Saara é baseada na civilização banto, por exemplo. No entanto, existem alguns traços comuns, como em qualquer outra região do mundo. E um dos traços comuns é a tragédia. A história de tragédias que afeta o continente desde o contato com os europeus, desde a escravatura, a colonização, as várias guerras pós-independência, a fome, as doenças, etc. Isso tem afetado muitos países.
Então, para que nós sejamos capazes de sobreviver, de nos mantermos lúcidos, só o humor nos auxilia. É fundamental. Não dá para ser como os portugueses, que inventaram o fado. Nós inventamos os ritmos que nos mantêm vivos, lúcidos, esperançosos, levamos esse ritmo para o mundo inteiro. Nosso divã é o humor.
Como o senhor avalia a repercussão da sua literatura e da dos demais escritores africanos de língua portuguesa no Brasil?
Apesar de um certo discurso brasileiro no sentido de dizer que o Brasil é o maior país negro do mundo depois da Nigéria, e apesar dos laços sangüíneos inquestionáveis entre África e Brasil, não há dúvida que o Brasil conhece pouco da África, principalmente da África atual.
Este desconhecimento tem dois reflexos: por um lado, gera o preconceito. Achar que a Africa é uma coisa só, por exemplo. Por outro, gera um sentimento igualmente equivocado, que é uma visão romantizada, exótica, idílica, sem conflitos internos. Isso, ao meu ver, resulta do desconhecimento. Isso, ao meu ver, não se trata de culpar ninguém, mas acho que as lacunas que existem no sistema de cultura e midiático brasileiro são talvez as maiores responsáveis por esse desconhecimento.
A realidade política, social, econômica e cultural dos países africanos está pouco presente na mídia e na cultura do Brasil. E, por isso, a literatura dos países africanos ainda é pouco conhecida aqui. Mas eu noto que começa a haver um certo interesse do mercado editorial e conseqüentemente isso começa a chegar à mídia pela literatura, principalmente dos países africanos de língua portuguesa.
Já há cinco ou seis autores de Angola e Moçambique que são editados por editoras importantes, portanto, começa a haver um interesse maior, o que me parece fundamental. Já existia há muito tempo, de uns anos para cá, um interesse por parte da academia brasileira, como a USP, a UFRJ, e por outras universidades, quer no Nordeste, em Salvador, na Paraíba e no Sul, como em Curitiba, por exemplo. Mas só agora as editoras começam a interessar-se.
Isso talvez tenha a ver com o fato de os próprios leitores começarem a reclamar coisas novas, histórias novas, aquilo que se chama literatura ocidental, ou literatura canônica, de alguma forma vive uma crise de comunicabilidade. Então, talvez os leitores comecem a interessar-se por outro tipo de histórias. Basta ver o boom que literaturas até então desconhecidas, como a afegã, por exemplo, a indiana, sem falar já no estouro da literatura da América Latina, que é muito mais antigo. Mas começa a haver espaço para outras vozes.
É claro que tudo é muito incipiente, um trabalho de formiguinha que precisa ser feito. No entanto, é possível dizer que o inverso é verdadeiro. Nós, em Angola, conhecemos pouco da literatura feita no Brasil. Algumas pessoas mais interessadas, que têm a oportunidade de viajar, essas vão tendo acesso. Mas a maior parte do público leitor não tem.
Claro que a nós, escritores africanos, nos interessa ser conhecidos no Brasil porque é uma sociedade muito próxima à nossa, e não só por causa da língua. Acho que essa questão tem que ser vista de ambos os lados, tem que ser uma coisa de mão dupla, é preciso levar a literatura brasileira a Angola e a outros países de língua portuguesa.
Essa troca pode aumentar com a implementação do acordo que prevê a reforma ortográfica?
Eu defendo esse acordo. Mas acho que, mesmo sem acordo, podem ser feitas coisas. Para unificar ou tender a unificar a maneira como se grafam as palavras. O acordo é só para isso. Nem sequer é um acordo para unificar a síntaxe, o vocabulário, o léxico ou o sotaque.
A meu ver, tem muitas exceções, acho que podia ser um pouquinho mais radical ainda, exceções, por exemplo, no sentido de permitir vários casos de dupla grafia. Acho que nesse domínio se poderia ir um pouco mais adiante. Aliás, a versão inicial do acordo era, a meu ver, melhor do que a que acabou de ser aprovada. Mas vai facilitar, sobretudo, em termos de produção de materiais, de documentos, de livros. E, para nós, angolanos, também pode servir para facilitar o ensino do português. Por tudo isso, eu sou um defensor desse acordo.
Mas, mesmo sem acordo, é possível trocar livros. Eu não tenho a menor dificuldade em ler um livro com a grafia brasileira, e acredito que o brasileiro também não tem dificuldade. Aliás, nesse meu livro e no de vários autores a grafia original foi mantida.
Angola ainda não ratificou o tratado que estabelece a unificação. O que acha disso? Existe vontade de realmente ratificá-lo na Assembléia Nacional?
Não ratificou, mas vai fazê-lo. Angola tinha outros problemas, tinha uma guerra, tem o processo de reconstrução em curso, e esse assunto ficou um pouco esquecido, mas acredito que o novo parlamento vai colocar isso rapidamente na pauta. Foi feita recentemente uma mesa-redonda com especialistas, lingüistas, pedagogos, escritores, jornalistas, etc., promovida pelo Ministério da Educação e a recomendação que saiu é para que Angola ratifique esse acordo.
É uma prioridade do novo parlamento, então?
Não é a prioridade das prioridades do parlamento novo, mas é algo a ser resolvido rapidamente.
Esta terça-feira, dia 11, celebrou-se o 33º aniversário da independência de Angola. Você, como filho de um dos fundadores do MPLA, julga que o país tem quais motivos para serem celebrados?
Temos alguns bons motivos para nos orgulharmos. Em primeiro lugar, o fim da colonização portuguesa. O segundo: apesar de todos os conflitos internos e conspirações externas de que Angola foi vítima ao longo de sua história, o país sobreviveu, pacificou-se e manteve-se unido territorialmente. Angola não se dividiu, antes pelo contrário. Consolidou sua unidade. O terceiro motivo é que o sentimento de angolanidade está cada vez mais forte.
É um país multiétnico, multicultural, eu gosto de dizer que é multiepidérmico, em vez de multirracial, já que o conceito de raça não existe, com uma esmagadora maioria de cidadãos de epiderme negra e cultura banto, mas também com angolanos de outras origens, como a européia. E apesar das guerras, a angolanidade hoje é um sentimento forte e perfeitamente consolidado, a meu ver. O que não quer dizer que não haja no dia-a-dia, no relacionamento entre as pessoas, dificuldades, problemas, etc.
Angola não é um paraíso, não temos essa visão romântica. Além disso, Angola está a saber acompanhar as transformações críticas mundiais que ocorrem, está a democratizar-se, não é uma democracia ainda completa, perfeita, não há democracias perfeitas, é um processo, mas estamos nesse processo. E vivemos hoje um momento especial de reconstrução do país após 27 anos de guerra.
É claro que temos muitos problemas. Problemas que decorrem da guerra, que têm a ver com o processo de reconstrução, que têm a ver com a reconstrução da democracia, do debate interno que existe a respeito disso, mas eu sou otimista e acho que, assim como fomos independentes e pacificamos o país e mantivemos nossa unidade, também seremos capazes de transformar Angola em um lugar bom para todo mundo viver. O grande desafio que temos é transformar o crescimento em verdadeiro desenvolvimento humano. E isso passa por uma melhor distribuição de riqueza, da moralização da sociedade, de investimentos em saúde, educação, etc.
Passa por diminuir os contrastes sociais e transformar toda a riqueza obtida com o petróleo e os diamantes em melhores condições de vida…
Exatamente, embora petróleo e diamantes acabem. Mas Angola tem potenciais que vão além deles. Tem água, por exemplo. Tem potencial agrícola muito grande. É um gigante adormecido do ponto de vista do turismo.
Portanto, acho que é preciso usar os recursos do petróleo e do diamante para diversificar a economia e transformar o grande crescimento econômico que o país tem hoje em desenvolvimento humano. Porque só os dois não geram, por exemplo, muito emprego. São atividades altamente especializadas, que não geram emprego maciço. Essas questões todas estão nos contos de Filhos da pátria. É preciso criar mecanismos que permitam uma distribuição mais equilibrada das riquezas.
O governo comprometeu-se em, nos próximos quatro anos, colocar essa questão no centro da agenda interna. Esse foi o principal compromisso do MPLA e explica também o tamanho da sua vitória (nas recentes eleições para a Assembléia Nacional, a mais alta instituição do poder legislativo do país). Além de diversificar a economia, é preciso investir seriamente em saúde, educação e formação profissional. O governo também assumiu na recente campanha o compromisso de gerar mais de 1 milhão de empregos no próximos quatro anos, e edificar 1 milhão de casas no país inteiro, sendo metade no interior de Angola. São compromissos que têm que ser cumpridos.
Que importância tem o fim da corrupção na construção de uma sociedade menos desigual, levando-se em conta que, em Angola, esse problema afeta não só as instituições do Estado, mas também as relações do dia-a-dia, como você bem mostra em Filhos da pátria?
A corrupção em Angola tem de ser analisada à luz do contexto angolano e não de qualquer outro país. A verdade é que a sociedade angolana ainda não atingiu o estágio de outras sociedades, como a do Brasil. Por isso, a corrupção, embora existente em vários níveis, ainda não é a principal prioridade da maioria dos angolanos, mas apenas de alguns extratos. Se fosse, talvez a vitória do MPLA nas últimas eleições não tivesse sido tão expressiva.
Angola está num processo de acumulação primitiva do capital historicamente incontornável. A prioridade número um é a pobreza extrema. Isso não deixa de estar ligado à luta contra a corrupção, pois a fome e o desemprego são inimigos da liberdade, da democracia e, por vezes, da própria ética. Por outro lado, o sucesso e a rapidez da luta pela moralização da sociedade também têm reflexos na superação da pobreza.
Nas últimas eleições, o presidente comprometeu-se a combater a promiscuidade entre os negócios e o exercício de cargos públicos. A sociedade deve pressionar para que isso seja feito paulatinamente, mas com firmeza. Mas sejamos claros: essa luta leva tempo. Os nossos países não podem fazer em 200 dias o que o Ocidente levou 200 anos a fazer e, mesmo assim, inconclusivamente. A história está sempre em movimento.
Devolvendo uma questão que você levanta na primeira linha do seu livro: até onde é capaz de ir a humilhação do ser humano? O senhor julga que Angola chegou nesse ponto depois de tantos anos de guerra?
Chegou praticamente ao fundo do poço. Vivemos realmente momentos muito difíceis, complicados, e só sobrevivemos, entre outras coisas, por causa do petróleo. Ele não é uma maldição, se for bem usado. E, sem dúvida, o fato de o termos nos permitiu sobreviver a todas as guerras, às agressões externas, etc. Mas a sociedade angolana chegou quase ao fundo do poço.
Com exceção do setor do petróleo, a economia estava totalmente paralisada, as pessoas com grande deslocamento interno — no auge da guerra, houve 4 milhões de deslocados em uma população calculada em 15 milhões —, o país esteve na verdade dividido em dois. E a guerra não é só destruição física, mas moral, ética. As famílias desintegraram-se. Os valores morais entraram em crise. Realmente, chegamos a um ponto muito complicado.
Mas além do petróleo, que nos permitiu sobreviver, além de uma liderança com uma visão moderna do país, também temos o humor, e isso nos permitiu sobreviver. E, agora, começamos a dar a volta por cima.
O MPLA obteve 191 das 220 cadeiras na Assembléia Nacional. Venceu até em áreas que anteriormente eram tomadas pela Unita, como Benguela e Huambo. Essa vitória esmagadora não é um risco para a democracia, especialmente no momento em que se discute a necessidade de uma nova constituição para o país?
Eu não diria que é um risco, pelo menos no sentido estrito da palavra. Mas é uma circunstância que tem que ser bem gerida politicamente, quer pelo partido que ganhou, quer pelas várias oposições. Esse é o grande desafio político. Digamos que a oposição fez uma jogada política de alto risco quando, na legislatura passada, interrompeu o processo constituinte. Estávamos a discutir, estava praticamente pronto um anteprojeto de constituição do país, mas os partidos da oposição interromperam, abandonaram os trabalhos alegando que a prioridade deveria ser a realização de novas eleições.
Na legislatura anterior, a nova constituição, para ser aprovada, precisava necessariamente dos votos da oposição. Portanto, ela estava numa posição em que podia influir no resultado final. Mas fez uma jogada política e deu-se mal porque o MPLA obteve a maioria qualificada nas eleições que a oposição tanto reclamava. É preciso agora saber o que fazer com isso.
Mas eu posso imaginar e antecipar que o MPLA vai usar essa vitória de uma maneira bastante parcimoniosa, e na nossa história recente o governo já deu várias provas de que sabe gerir seus êxitos. Em 2002, quando a guerra acabou, o governo não perseguiu ninguém. Antes, permitiu que a direção política dos rebeldes sobrevivesse para negociar com eles, integrou-os no governo, constituiu um governo de unidade nacional composto pelo MPLA e por partidos da oposição, reinseriu socialmente os soldados rebeldes – alguns deles tornaram-se generais, chefes militares do Exército único.
Essa vitória militar alcançada em 2002 foi gerida com grande sentido de Estado. Isso é que tornou Angola um exemplo em África. Portanto, estou certo de que a vitória política alcançada nas eleições também será gerida com o mesmo sentido nacional que o governo demonstrou antes. O anteprojeto que vai novamente agora para o parlamento é o mesmo que já tinha sido discutido anteriormente, com a participação da oposição, e vamos procurar obter o consenso para a aprovação. Um consenso com a oposição e com o povo.
Que temas o senhor considera urgente rediscutir nesse novo documento?
Esse projeto é bastante bom em termos de liberdades e garantias, em termos de constituição econômica. É bastante moderno, em termos gerais. Talvez o grande ponto que está em discussão ao nível da sociedade, da classe política, mesmo dentro do MPLA, é a questão do regime político: ou semipresidencialismo (parlamentarismo) ou presidencialismo. O grande debate neste momento é esse. É o que vai ocupar as discussões futuras sobre a constituição.
É um parlamentarismo com forte pendor presidencial — o chefe de Estado é também o chefe do Executivo; o primeiro-ministro é um auxiliar. As duas opções são essas. Posso antecipar inclusive que, pessoalmente, eu defendo o presidencialismo, com as vantagens e os ônus. O chefe de Estado é o chefe do Executivo, isso nos países africanos em geral é importante, porque a figura do chefe é muito forte e a sociedade responsabiliza o presidente. Vamos ver qual será o resultado do debate. Com relação à economia, há questões como a propriedade, o acesso à terra, a política de crédito; na nossa constituição atual, essa parte é pouco ou nada desenvolvida, mas o novo anteprojeto é bastante inovador, tem uma parte substancial dedicada à organização da economia.
Existe uma expectativa de que haja eleição presidencial no país em 2009, a primeira desde 1992. O senhor acha que essa expectativa se confirma? Será que o atual presidente tenta um novo mandato?
Não há nada oficial ainda, mas os sinais que existem é que vai haver eleição presidencial no ano que vem. Não se sabe ainda o mês e, embora o presidente não tenha dito se vai se candidatar, é altamente previsível que vá. Não vislumbro de imediato outra liderança dentro do MPLA para disputar a presidência. E outros candidatos da oposição, dois ou três, manifestaram a intenção de se candidatar. É preciso olhar para isso não do jeito que olhamos para outras realidades, mas de acordo com a realidade histórica política e histórica atual.
A verdade é que, depois de uma guerra tão longa, Angola ainda está numa fase de transição e é preciso completar essa transição. É preciso um líder que seja capaz de gerir as vitórias com sentido de Estado, como o atual presidente tem feito. É preciso consolidar as instituições democráticas que estão em constituição ainda e criar as bases para um reequilíbrio em termos de distribuição da riqueza, etc. Precisamos de um líder com essa capacidade e, no espectro político atual do país, eu não vejo outro que não José Eduardo dos Santos para desempenhar esse papel.
Se ele se candidatar, terá toda a legitimidade para fazê-lo, será a coisa adequada para se fazer nesse momento. Um observador externo pode dizer: "Mas o homem está no poder desde 1979". No entanto, é preciso analisar o que levou a essa situação. É preciso lembrar que, até 1990, Angola tinha partido único (por decisão do próprio MPLA); depois, em 1992, a guerra regressou ao país e não havia condição para fazer novas eleições realmente democráticas e o país atingiu um grau de destruição a todos os níveis muito grande, que exige agora que a transição seja concluída. Essas são as nossas circunstâncias e temos que lidar com elas.
Como o país vai lidar com o confronto na RDC, que é vizinho a Angola?
Angola tem todo o interesse que a RDC seja estável, porque necessariamente uma instabilidade vai levar a um êxodo muito grande de congoleses para o território angolano e, na fase que Angola vive, um êxodo de população vinda de países vizinhos é tudo aquilo que não desejamos.
Não sei qual será a posição oficial a tomar, mas até agora Angola tem alinhado com as posições da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) e da ONU no sentido de reforçar as forças da ONU na região para pacificar o país e fazer com que os rebeldes de Kivu aceitem negociar um acordo de paz nos termos que foi estabelecido há alguns anos.
Não será do interesse de Angola, por exemplo, envolver-se numa guerra externa. O governo está a fazer tudo para conseguir pacificar o Congo. O Congo é um país muito dividido, fragmentado, onde o Estado é fraco, as ligações físicas são muito deficientes, não há estradas, as várias regiões são isoladas, o que gera sentimentos divisionistas, separatistas, etc.
Para agravar, Ruanda, que é o vizinho do Congo e acusado de estar a apoiar os rebeldes neste momento, tem um problema de espaço vital. Tem um território pequeno, muita gente e está tentado a resolver esse problema pela pior via, que é alimentar a rebelião no norte do Congo. É uma situação preocupante. Espero que o esforço diplomático seja suficiente para estancar esse conflito.
Como repercutiu em Angola a eleição de Barack Obama para a presidência dos Estados Unidos? O senhor está esperançoso com relação à ascensão do primeiro presidente negro daquele país? Por quê?
Certamente que em Angola isso repercutiu grandemente. Eu, pessoalmente, como cidadão angolano, como intelectual e político, estou entusiasmado. Não tenho ilusões: Obama é o novo líder do império, tem interesses específicos. Mas é um evento simbólico extraordinário. Espero que, em termos de política propriamente dita, algo mude, especialmente a política externa.
Estou entusiasmado sobretudo pelo significado simbólico desse evento, porque talvez marque o início de um tipo de sociedade pós-racial, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, inclusive em África.
Recentemente, comentando com alguém aqui no Brasil sobre isso, essa pessoa ficou admirada, mas depois compreendeu. Eu disse que Obama dificilmente seria eleito na maioria dos países da África, porque para os parâmetros da maioria deles, salvo dois ou três, ele é mulato, mestiço. Portanto, membro de uma minoria senão discriminada, marginalizada. Não institucionalmente, mas socialmente, politicamente. Há muitas discussões e resistências quanto ao fato de mulatos ou brancos serem membros do governo, esse tipo de coisa.
Em certos setores da sociedade, posso dizer que nas massas, não há esse problema. Mas as elites sociais e econômicas têm esse tipo de problema. Por isso, dificilmente Obama seria eleito na África, mais ainda do que foi nos Estados Unidos. Espero que a vitória dele sirva para se dar um passo nessa discussão. Não é que essa coisa chamada raça deva ser negada. A experiência "racial" tem que ser assumida como memória e história, para que não se repita. Mas sem deixar de assumi-la como experiência, é preciso dar um passo adiante. Espero que isso também repercuta em África.
* * *
Trecho // O efeito estufa
"(…) Vamos aos factos: Charles Dupret era estilista. O único estilista preto!, dizia ele, como se isso acrescentasse alguma coisa à criatividade dos seus desenhos, à qualidade dos tecidos que utilizava ou ao detalhe dos seus acabamentos. O problema (ou simplesmente a questão, para não começar logo a dramatizar…) é que ele levava isso tão a peito, que o cenário de todos os desfiles era sempre totalmente preto, das passarelas aos cortinados, passando pelas cadeiras, pelas lâmpadas e todos os outros adereços. Escusaria de acrescentar que, obviamente, os próprios modelos eram também todos pretos, se não fosse necessário, pelo menos por curiosidade, evocar a abertura esdrúxula que costumava anunciar, através de um poderoso e oculto altifalante, a respectiva entrada na passarela: Senhoras e senhores, vão passar a seguir as pretas e os pretos autênticos de Charles Dupret, os únicos que são imunes ao efeito estufa!
As opções estético-epidérmicas do estilista foram consideradas uma lufada de ar fresco no amorfo panorama da moda local, o grito de Ipiranga dos jovens criadores autóctones e até mesmo uma autêntica revolução político-semiótica, digna não somente de figurar nas revistas especializadas de todo o mundo, mas também de ser estudada por Barthes e Umberto Eco, se acaso eles fossem capazes de olhar um pouco para lá (ou melhor, para cá) do Mediterrâneo. Um jornalista chegou a apodá-lo, depois de um desfile que acabou, como não podia deixar de ser, numa bruta farra, de The King of Black Style. Esse mesmo jornalista, contudo, teve uma grande maka com Dupret, posteriormente, quando num raríssimo assomo de lucidez, chamou a atenção para o facto de que os únicos que adquiriam as roupas do estilista eram brancos e, ainda por cima (melhor: inevitavelmente, por serem os mais endinheirados), gringos, pois os autóctones (em especial os de tez escura) não tinham bufunfa para essas extravagâncias (…)"
Fonte: Correio Braziliense, na edição de 18 de novembro de 2008