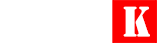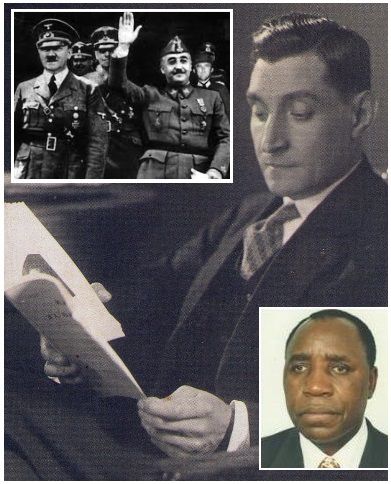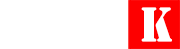Lisboa - Alguns parentes dos arguidos do conhecido caso “Quim Ribeiro”, procuraram mais uma vez o Club-k.net, por ser o espaço de manifestação de todos, mas essencialmente, dos que não têm voz, para solicitarem a publicação de um parecer solicitado a um Professor de Direito em Portugal sobre o acórdão do Tribunal Constitucional com o nº336/2014, cujas conclusões leva a que qualquer cidadão atento e interessado numa melhor justiça e justa, de acordo com a Constituição e a lei, a manifestar profunda preocupação com o rumo da nossa justiça, agravada a situação pela falta de imparcialidade dos tribunais em geral e, do Tribunal Constitucional, em especial, já que este, deveria ser o ultimo baluarte da Constituição e da lei, até pela presumível qualidade académica dos seus integrantes.
Fonte: Club-k.net
 Outrossim, espanta a qualquer cidadão até leigo em direito, mais atento a estas matérias, já que a justiça interessa a todos, independentemente da sua condição social, como é possível que um Tribunal Constitucional serio pode pisar a Constituição dessa forma pois, é admissível que qualquer outro tribunal assim proceda, já que em ultima instância, o Tribunal Constitucional de corrigir as violações dos demais, até mesmo porque os seus integrantes ostenta títulos académicos que mereciam pelo menos serem dignificados e não desprezados, como acontece neste caso.
Outrossim, espanta a qualquer cidadão até leigo em direito, mais atento a estas matérias, já que a justiça interessa a todos, independentemente da sua condição social, como é possível que um Tribunal Constitucional serio pode pisar a Constituição dessa forma pois, é admissível que qualquer outro tribunal assim proceda, já que em ultima instância, o Tribunal Constitucional de corrigir as violações dos demais, até mesmo porque os seus integrantes ostenta títulos académicos que mereciam pelo menos serem dignificados e não desprezados, como acontece neste caso.
No entanto, deixamos a atenção e apreciação dos nossos ilustres leitores o parecer em referência para que cada um tire as suas conclusões:
(quanto a diversas questões no âmbito do procedimento criminal militar n.º 11/2011, pendente nos tribunais Angolanos, contra Joaquim Ribeiro e outros)
INTRODUÇÃO
- A consulta jurídica com que me honrou o Ilustre Colega Dr. Sérgio Raimundo pode dividir-se nos seguintes temas, cuja ordem seguirei na minha resposta à mesma:
- A) A vigência dos princípios do contraditório e do acusatório no regime do processo penal militar vigente em Angola;
- B) O dever legal de notificação da Acusação ao arguido, no âmbito do regime do processo penal militar vigente em Angola;
- C) A admissibilidade da violação do sigilo das comunicações dos arguidos para efeitos de obtenção de prova, por ordem do Ministério Público, nos termos do regime do processo penal militar vigente em Angola;
- D) A exigência de prolação de mandado de captura, e de sua apresentação aos arguidos, para efeitos de prisão fora de flagrante delito, nos termos do regime do processo penal militar vigente em Angola.
- O presente estudo incluirá ainda, tal como solicitado na consulta em causa, um capítulo com uma análise da questão dos entraves colocados aos arguidos no contacto e acesso aos seus defensores em vários momentos e actos praticados no processo.
- A resposta que se segue tomará, naturalmente, como principal base o Direito Angolano, e terá por referência o recurso extraordinário de inconstitucionalidade apresentado pelo Distinto Colega Dr. Sérgio Raimundo em representação de Joaquim Ribeiro e outros, quanto ao Acórdão do Supremo Tribunal Militar Angolano em 28/5/2014 no âmbito do procedimento criminal com o n.º 11/2011, e o acórdão n.º 336/2014 de 11/9/2014, aí proferido pelo Tribunal Constitucional Angolano (doravante, TCA).
- Ademais, referir-me-ei aos sujeitos que são objecto de um procedimento criminal como “arguidos”, para utilizar a expressão empregue na legislação Angolana mais recente em matéria de processo penal, e não obstante os diplomas mais antigos os denominarem de “réus”.
- A) DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO ACUSATÓRIO NO REGIME DO PROCESSO PENAL MILITAR ANGOLANO
- O tema com que se inicia o presente estudo assume uma função basilar no percurso que o mesmo seguirá quanto aos pontos seguintes: trata-se de saber se os princípios do acusatório e do contraditório vigoram nos mesmos termos no processo criminal comum, e no processo criminal militar.
- No recurso extraordinário de inconstitucionalidade em referência é defendida a tese de que a vigência destes dois princípios não sofre quaisquer restrições consoante o tipo de processo em causa; já no Acórdão n.º 336/2014, acima referido, o TCA pronuncia-se no sentido contrário.
- Para sustentar a sua posição, invoca aquele Tribunal que os militares estão “integrados num sector especial da organização do Estado”, com “direitos especiais” e “responsabilidades igualmente especiais” (v. pág. 13 do identificado acórdão).
- A este propósito impõe-se estabelecer, à cabeça, que os princípios do acusatório (referindo-se, neste caso, à estrutura do processo criminal) e do contraditório são contemplados no artigo 174.º n.º 2 da Constituição da República Angolana (doravante, CRA), que estabelece que a sua tutela no ordenamento Angolano é uma incumbência fundamental dos tribunais.
- Como tal, estes princípios estão ínsitos no conteúdo do direito fundamental de defesa que assiste a qualquer arguido, nos termos do artigo 67.º n.º 2 da CRA.
- Acresce que o direito de defesa em causa surge igualmente previsto no artigo 11.º n.º 1 da Declaração Universal dos Direitos do Homem 7.º n.º 1 alínea c) da Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos – diplomas internacionais que, de acordo com o disposto no artigo 26.º n.º 2 da CRA, constituem um parâmetro interpretativo das disposições constitucionais e legais Angolanas em matéria de direitos fundamentais.
- Os referidos princípios, vistos da perspectiva do direito fundamental de defesa que os exara, sofrem uma densificação legislativa, em primeira linha, no Código de Processo Penal Angolano (doravante, CPP), na estrutura que é aí atribuída ao processo criminal (sendo que é a plena aplicação dessa estrutura ao caso sub judice o que aqui se discute).
- O que fica exposto permite fixar como premissa da análise do problema, que ao se restringir por via legislativa ou jurisprudencial os princípios do acusatório e do contraditório está-se a apor limitações a um direito fundamental – o direito de defesa previsto no artigo 67.º n.º 2 da CRA.
- E, nesse caso, deve chamar-se à colação o disposto no artigo 57.º da CRA, que dispõe que “[a] lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos expressamente previstos na Constituição, devendo as restrições limitar-se ao necessário, proporcional e razoável numa sociedade livre e democrática, para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos” (por sinal, uma disposição em tudo semelhante ao seu preceito homólogo no Direito Português, previsto no artigo 18.º n.º 2 da Constituição da República Portuguesa).
- Segundo o que aí se estabelece, uma restrição ao conteúdo (constitucional ou legislativo) de um direito fundamental só se pode justificar perante a necessidade de tutelar um outro direito ou interesse conflituante, que esteja munido de igual estatuto na ordem jurídica.
- E logo aí começa a claudicar a tese defendida pelo TCA, porquanto o mesmo não identifica qual o “contrapeso” que justifica uma compressão das garantias processuais conferidas aos arguidos; de facto, este Tribunal apenas refere certas “necessidades e especificidades próprias das forças militares” (v. pág. 13 do identificado acórdão), que não especifica, mas que ainda assim arvora em fundamento válido da denegação dos princípios do contraditório e acusatório.
- Mais resulta do preceito citado que uma qualquer restrição deve constituir uma medida necessária para tutela do direito conflituante (que, como vimos, não se verifica), e ainda proporcional na medida da compressão.
- Nesta sequência, impõe-se constatar que a restrição de garantias processuais penais basilares dos arguidos, como são o princípio do contraditório e acusatório, em nada decorre do seu eventual estatuto de militar ou paramilitar.
- É concebível que as responsabilidades acrescidas que estão coenvolvidas no ofício militar resultem em imposições mais rígidas no plano do Direito Penal material; daí que exista legislação especial que prevê crimes especificamente militares, em função dos seus agentes (como é o caso da Lei n.º 4/94 de 28/1 – Lei dos Crimes Militares).
- Já as pretendidas restrições no plano processual penal, em função desse estatuto de militar, não são de todo admissíveis – nada as justifica, muito pelo contrário.
- A lógica processual penal, com esteio na Lei Fundamental é antes a inversa: quanto mais gravoso e qualificado for um crime nos seus elementos constitutivos e na respectiva punição, maiores as garantias processuais que é necessário salvaguardar.
- É essa mesma lógica a vertida nos artigos 62.º e seguintes do CPP que estabelecem os requisitos de aplicação das várias formas de processo criminal comum; e precisamente o mesmo sucede com o dispositivo do artigo 34.º da Lei n.º 5/94 de 11/2, que rege o processo criminal militar em Angola.
- Em ilustração do que aqui defendo permita-se-me o seguinte paralelismo: se aos militares incumbem, segundo o TCA, responsabilidades especiais, muito maiores encargos pertencem ao ofício de juiz (maxime de um tribunal constitucional) pois que aos mesmos compete a função cimeira num Estado de Direito Democrático de tutela dos direitos dos cidadãos (sejam eles militares ou não) contra todas as ofensas.
- E não consta, nem seria defensável que seja de lhes aplicar um regime processual penal diverso, mais restritivo, daquele com que pode contar um qualquer outro arguido; pelo contrário, dos artigos 32.º e 33.º da Lei n.º 20/88 de 31/12 (aplicáveis aos processos criminais contra juízes), resulta justamente essa faculdade de abertura de instrução.
- Posto isto, a consequência a retirar da especialidade do estatuto militar sobre o regime processual penal é precisamente a inversa da que propugna o TCA: justamente por se tratar de um estatuto que comporta responsabilidades acrescidas, e punições agravadas, deve ser reforçada a tutela das garantias processuais penais, com destaque para o direito de defesa, para o qual confluem o princípio do contraditório e do acusatório.
- Aqui chegados, e tendo em conta o que fica exposto, podemos desde já avançar a conclusão de que a tese defendida pelo TCA quanto às supostas restrições do princípio do acusatório e do contraditório que decorreriam do estatuto de militar entram em directa colisão com a disciplina estabelecida no citado artigo 57.º da CRA, conjugado com o disposto nos artigos 67.º n.º 3 e 174.º n.º 2, também da Lei Fundamental Angolana.
- B) O DEVER LEGAL DE NOTIFICAÇÃO DA ACUSAÇÃO AO RÉU E O SEU DIREITO À INSTRUÇÃO CONTRADITÓRIA
B.1) PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL
- Analisemos agora a questão do dever de notificação dos arguidos da acusação contra si proferida, no âmbito do processo em crise, em conexão com o seu direito processual de instaurarem a instrução contraditória em impugnação do conteúdo dessa acusação.
- O tratamento deste segundo tema beneficia largamente das conclusões já alcançadas quanto à questão anterior, e que cumpre ter aqui bem presentes.
- Começa-se desde logo por observar que o artigo 34.º n.º 2 da Lei n.º 5/94 de 11/2 estatui expressamente que é subsidiariamente aplicável a esta forma especial de processo (na forma ordinária, como é aqui o caso) o regime processual penal comum.
- Em meu entender, não seria preciso ir mais longe para considerar que a faculdade de abertura de instrução contraditória prevista no processo penal comum assiste igualmente aos arguidos em processo criminal militar, devendo, em conformidade, ser-lhe notificada acusação, para exercício dessa prerrogativa.
- Nesse sentido, militam ainda as conclusões já alcançadas quanto às pretensas restrições das garantias processuais penais no referido regime especial militar – com efeito, os princípios acima analisados, com destaque para o contraditório, sempre postulariam que ao arguido fosse assegurada a possibilidade de se pronunciar sobre um acto das autoridades judiciárias tendente à sua incriminação pela suposta prática de um crime, como é a acusação penal.
- Contudo, entendeu o TCA que aos ditos arguidos não assiste uma tal faculdade em virtude do seu estatuto militar, e que apesar disso o seu direito de defesa sempre estará garantido pela possibilidade que têm de apresentar uma defesa perante o juiz após o proferimento do despacho de pronúncia, nos termos do artigo 47.º da Lei n.º 5/94 de 11/2.
- Acrescente-se que o Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Militar em 28/5/2014, no âmbito dos mesmos autos, defendendo essa mesma tese concernente à faculdade de requerer a abertura da instrução contraditória pelo arguido militar, aduz que “[a]s garantias de defesa existem no processo penal militar, simplesmente foram transportadas para outra fase do processo, ou seja, a da pronúncia”.
- Vista a posição assumida por estas instâncias judiciais, cumpre aqui expender algumas considerações adicionais sobre a extensão dos princípios do contraditório e acusatório no meandro processual em que se move o processo, analisando-os na perspectiva da concreta faculdade titulada pelo arguido “militar” de requerer a instrução contraditória num procedimento criminal militar.
- Para esse efeito, chamemos novamente à colação a norma do artigo 57.º da CRA, que fixa a bitola para suposta restrição do direito fundamental de defesa titulado arguido em processo criminal militar; atente-se especificamente nos requisitos aí estabelecidos da “necessidade” da restrição e da sua “proporcionalidade” e “racionalidade”.
Vejamos,
Como vimos, a “necessidade” exigida a qualquer medida restritiva do um direito fundamental reporta-se à tutela de um outro direito ou interesse fundamental, que constitui o seu “contrapeso” jurídico[1].
- Com efeito, nota-se que a necessidade de restringir esta faculdade dos arguidos no procedimento aqui em referência “pesa” bastante na identificada decisão do TCA.
- Contudo, este Tribunal limita-se a colocar nesse prato da balança o desiderato de garantir “um procedimento célere e expedito”, que figuraria como decorrência das “necessidades e especificidades próprias das forças militares” (v. página 31 do referido acórdão); refere ainda, na mesma senda, que é “extremamente importante que os crimes de natureza militar sejam resolvidos em tempo oportuno, até pela repercussão que o seu arrastamento tem no seio da hierarquia militar”.
- Salvo o respeito que merece o TCA, é aqui feita uma proclamação da necessidade de restringir uma faculdade processual fundamental mas não se vislumbra que seja avançada qualquer justificação consistente e palpável para esse fim.
- Já quanto à aferência feita pelo Supremo Tribunal Militar Angolano, no acórdão acima citado, é notório que é aí feita uma confusão entre o “transporte” da faculdade de defesa aqui em causa, e a sua pura e simples supressão, que é justamente o que está em causa; convém deixar bem claro que o que se discute é essa supressão, e não uma dilação da instrução contraditória para momento posterior, no âmbito do mesmo processo.
- Em primeiro lugar, a celeridade processual é, em si, uma garantia constitucional prevista no artigo 29.º n.º 5 da CRA, que é dirigida a todos os cidadãos Angolanos sem distinção; pelo que não se percebe que tipos de processo pudessem estar do outro lado da contraposição ensaiada pelo TCA no que concerne à exigência de “um procedimento célere e expedito”.
- Em segundo lugar, e como vimos já, as responsabilidades agravadas que são inerentes ao estatuto militar, se podem licitamente surtir repercussões sobre o regime penal material que é aplicável aos seus titulares, também apelam correspectivamente a um reforço das garantias de defesa processuais em sede de processo criminal, justamente devido às punições acrescidas e agravadas que recaem sobre os militares.
- Tudo visto, não é possível sequer entrever qual a “necessidade” inerente a privar os militares da faculdade de requerer a instrução contraditória quanto a uma acusação de que sejam objecto.
- Consequentemente, caem por terra os demais requisitos acima mencionados, nomeadamente os da razoabilidade e proporcionalidade, que teriam que ter igualmente por referência a tutela de um direito ou interesse fundamental em confronto com aquele que se visa restringir.
- Em decorrência do que fica exposto, reafirmo que não é admissível, face à CRA, uma limitação do direito de defesa dos arguidos em processo penal militar, ainda que essa restrição deixe ainda margem a uma instância de contraditório perante o juiz, porquanto nada permite cindir as exigências de tutela das garantias processuais penais da generalidade dos sujeitos num procedimento criminal, daquelas que serão aplicáveis aos arguidos com estatuto de militar.
- E isso permite estabelecer, desde já, que a interpretação feita pelas autoridades judiciárias Angolanas da Lei n.º 5/94 de 11/2, no que concerne à ausência de uma previsão expressa da faculdade do arguido requerer a instrução contraditória, é inconstitucional, por entrar em colisão com o direito fundamental de defesa, previsto no artigo 67.º n.º 2 da CRA, e constituir uma restrição inadmissível do mesmo à luz do disposto no artigo 57.º da CRA.
B.2) PERSPECTIVA DE DIREITO ORDINÁRIO ANGOLANO
- Observemos agora a questão sob análise tendo em conta os elementos extrapoláveis da Lei ordinária Angolana.
- Como ponto de partida, há que fazer notar novamente que o artigo 34.º n.º 2 da Lei n.º 5/94 de 11/2 dispõe com cristalina objectividade que é subsidiariamente aplicável ao processo criminal militar o regime processual penal comum.
- Dessa disposição resulta que o regime previsto no CPP constitui a regra, à qual o intérprete e aplicador do Direito só se poderá furtar caso a Lei dê indicações no sentido contrário, o que aqui claramente não sucede.
- A este elemento, que em meu entender bastaria, só por si, para legitimar juridicamente a tese que aqui vem sendo defendida, acrescente-se ainda os seguintes.
Vejamos,
- A conjugação do disposto nos artigos 45.º, 48.º e 49.º da Lei n.º 5/94 de 11/2 levou a TCA e as demais autoridades judiciárias que a este respeito se pronunciaram, a concluir que o âmbito do regime processual previsto nesse diploma não é devida a notificação da acusação ao arguido, nem a este é permitido requerer a instrução contraditória.
- Contudo, não pode deixar de se constatar que o mencionado artigo 45.º, por um lado, e o subsequente artigo 48.º, por outro, preveem duas decisões distintas de apreciação do conteúdo dos autos, por parte das autoridades judiciárias – no primeiro caso, a acusação pelo “procurador”, e no segundo o despacho de pronúncia pelo juiz que decide se o processo transita para a fase de julgamento.
- Ora, se assim é, temos que os elementos, a versão da história levada ao conhecimento do juiz para efeitos do despacho de pronúncia são exactamente os mesmos que basearam a decisão antecedente, do Procurador.
- Se observarmos a interpretação propugnada pelo TCA quanto a esta sequência de actos, à luz dos princípios do contraditório, do acusatório, e da celeridade e economia processual, parece-me natural concluir que a decisão judicial do despacho de pronúncia seria insusceptível de ajuizar com eficiência do acto anterior, tendendo antes para uma mera repetição deste – se não o seria necessariamente no conteúdo, sê-lo-ia certamente nos elementos dos autos que lhe servem de base e pressuposto.
- Isto é, o despacho de pronúncia só poderá exercer um controlo de cariz judicial eficaz sobre a decisão precedente do Procurador, se entre esses dois actos permear uma pronúncia pelo arguido, que lhe permita defender-se aduzindo nos autos os competentes elementos de suporte à sua posição.
- Só assim poderá o juiz decidir o prosseguimento dos autos para a fase de julgamento de forma suficiente e instruída – só assim poderá o despacho de pronúncia cumprir a sua missão de controlo judicial de uma decisão provinda de um órgão de diferente natureza.
- Além disso, não colhe o argumento de que o trânsito imediato do processo para a fase de julgamento prejudica a celeridade que se quer como apanágio de qualquer procedimento criminal.
- É que a fase de julgamento é, por natureza, a mais morosa e solene de todas a que conformam marcha processual; admitir que antes dela interceda uma instrução contraditória é antes uma forma de obviar ao prosseguimento de muitos processos que, após a devida pronúncia por parte do arguido, se revelem sem fundamento e até patentemente injustos.
- Na verdade, presumir logo à partida que a fase de instrução contraditória deve ser aqui suprimida por poder ser inútil e onerar os autos com um incidente processual acrescido e improcedente é partir do princípio que o arguido é culpado, num grave atropelo do princípio da presunção de inocência que assiste ao mesmo, por força do preceituado no artigo 67.º n.º 2 da CRA.
- Não se contraponha sequer que ao abrigo do artigo 47.º da Lei n.º 5/94 de 11/2, o juiz pode pedir ao Procurador, se assim entender, elementos complementares para o apuramento da verdade - uma tutela eficiente e activa do princípio do contraditório e da função jurisdicional de controlo ínsita no despacho de pronúncia não se pode resumir a uma faculdade discricionária das autoridades judiciárias, mas antes em deveres processuais, nomeadamente o dever de permitir ao arguido apresentar a sua defesa em tempo útil de evitar que o processo entre na fase mais solene e morosa do julgamento, tal como sucede no CPP, e deveria também suceder no regime processual sob análise!
- Ora, fixada esta premissa, inevitável é “cair” na afirmação de que também no âmbito do processo criminal militar é permitido requerer instrução contraditória – para o concluir basta olhar à finalidade dessa fase processual na óptica do arguido, que aponta para uma contraposição ao conteúdo da acusação com vista á sua apreciação pelo juiz, que surge proclamada no artigo 327.º do CPP, na redacção dada pelo artigo 26.º da Lei n.º 20/88 de 31/12, que se cita:
“A instrução contraditória tem como objectivo esclarecer e completar a prova indiciária da acusação e realizar as diligências requeridas pelo arguido destinadas a ilidir ou a enfraquecer aquela prova e a preparar ou corroborar a defesa, assim como efectuar as que o juiz julgue necessárias ou convenientes para receber ou rejeitar a acusação.”
- Em reforço das conclusões até aqui alcançadas, reitero na íntegra o que é defendido pelo Ilustre Dr. Sérgio Raimundo nas suas alegações do recurso extraordinário de inconstitucionalidade (v. artigos 26.º e seguintes) quanto à necessidade de notificação da acusação ao arguido para efeitos de contagem do prazo de prisão preventiva, nos termos do disposto no artigo 25.º da Lei n.º 18-A/92 de 17/7.
- Mais do que um mero elemento interpretativo no sentido da tese aqui defendida, o referido preceito significa que, sendo a data da notificação da acusação o termo inicial do prazo de prisão preventiva, esse acto de notificação é uma condição essencial para um efectivo e eficiente controlo do cumprimento dos limites temporais dessa forma de privação provisória da liberdade.
- Aproveitando esta linha de raciocínio, sou ainda obrigado a discordar por completo do entendimento manifestado pelo TCA de que “ainda que se considerasse que houve falta de notificação da acusação, tal facto representaria uma mera irregularidade, porque não prevista no artigo 98.º do Código de Processo Penal como causa de nulidade absoluta e, consequentemente, sanável nos termos do artigo 100.º do Código de Processo Penal, o que sempre teria ocorrido com a notificação do despacho de pronúncia”.
- No seguimento do exposto, não há como não considerar que a falta de notificação da acusação, enquanto condição sine qua non para o legítimo requerimento da instrução contraditória, é uma omissão posterior de diligências que devam reputar-se essenciais para o descobrimento da verdade, o que consubstancia uma nulidade processual, ao abrigo do disposto no artigo 98.º § 1 do CPP.
- Ademais, e em qualquer dos casos, não resulta, de modo algum, do artigo 100.º do CPP que se possa dar uma sanação desta invalidade nos termos em que o anuncia o tribunal, sem no entanto justificar o seu entendimento.
- Em suma, os elementos interpretativos com fonte na legislação ordinária Angolana, se devidamente conjugados com o princípio do contraditório e do acusatório permitem concluir que a fase da instrução contraditória é igualmente cabível no processo criminal militar, sem que rigorosamente nada aponte no sentido contrário.
B.3) BREVE PERSPECTIVA HISTÓRICA
- A incursão histórica com que se termina a análise da presente questão torna-se antes de mais, possível, devido ao passado comum que é partilhado pelo meu país, Portugal, e Angola, tanto no plano político como jurídico.
- O motivo da sua pertinência no presente contexto é simples: não soubesse qual a proveniência da tese defendida pelas autoridades Angolanas, país que desde a independência tem promovido e realizado com afinco a instituição de um Estado de Direito Democrático, eu estranharia que a mesma tivesse uma tal origem.
- E isto porque, perspectivada tal doutrina à luz do Direito vigente aquando do regime ditatorial da época em que Angola era uma colónia Portuguesa, constato com surpresa que a mesma assume traços mais limitativos de princípios tão basilares como o do contraditório e do acusatório, do que o regime homólogo que regia o processo criminal militar nessa fase da história dos dois países.
Vejamos,
- Durante a época ditatorial e colonial, o processo criminal militar era regido pelo Decreto n.º 11.292 de 28 de Novembro de 1925; ressalve-se ainda que, sobretudo na sua fase inicial (a partir de 1926), a época ditatorial era de cariz marcadamente militar.
- Esse regime contemplava duas fases processuais iniciais – o “corpo de delito” e o “sumário da culpa” (v. artigos 404.º e seguintes) – que se podem equiparar, grosso modo, à fase de instrução preparatória relativa ao processo criminal Angolano.
- A fase do sumário da culpa – aquela em que as autoridades tomavam a maior parte das diligências de produção de prova quanto aos factos inicialmente indiciados – terminava com um “despacho sobre o sumário”, previsto nos artigos 457.º e seguintes do referido diploma, no qual o “promotor de justiça” se pronunciava acerca dos elementos colhidos e decidia formular ou não acusação contra o “réu”, fazendo-a constar dos autos “por libelo” (v. artigo 465.º).
- Dispunha então expressamente o artigo 469.º que com base nesse libelo, após recebido pelo “auditor”, deveria ser notificado aos réus uma “nota da sua culpa”, da qual constaria a sua faculdade de se defender, “sob pena de nulidade”.
- Assim, já naquela altura era garantida ao arguido a possibilidade de se pronunciar sobre a acusação contra si deduzida, requerendo a instrução contraditória.
- Ainda no sentido da admissibilidade da instrução contraditória neste já revogado regime, note-se que o regime que o antecedeu, aprovado pelo Decreto de 16/3/2011, previa já expressamente a instrução contraditória, o que, aliás, constituiu aí uma inovação no processo criminal militar[2].
- Em sentido convergente, note-se que, após o termo da ditadura em Portugal, em 25/4/1974, e durante o processo de descolonização, foi aprovada a Lei n.º 9/75 de 7/8, que previa a criação de um tribunal militar especial para o julgamento dos sujeitos envolvidos no golpe contra-revolucionário de 11/3/1975; esse diploma foi então concretizado pelo Decreto-Lei n.º 425/75 de 12/8, que regulou a composição e o processo no referido tribunal militar especial.
- E curioso é notar que essa lei veio, no seu artigo 9.º, criar uma norma excepcional relativamente ao regime do Decreto n.º 11.292 de 28 de Novembro de 1925, que ainda vigorava na altura; o seu conteúdo merece ser citado, e alvo de reflexão:
“Para a indispensável celeridade dos processos da competência deste Tribunal não haverá instrução contraditória.”
- Termino o presente capítulo dizendo que, se outros argumentos não houvessem, as evidências que relevam do cotejo histórico acima realizado seriam razão suficiente para inspirar às autoridades judiciárias Angolanas uma decisão no sentido da admissibilidade irrestrita da instrução contraditória no âmbito de um processo criminal militar.
- Defender o contrário seria o mesmo que afirmar, absurdamente, que a Lei n.º 5/94 de 11/2, aprovada pelo Parlamento Angolano já após o derrube do fascismo e do colonialismo do regime anterior, e já depois da aprovação de uma Constituição Democrática, veio consagrar um regime mais restritivo de direitos fundamentais do que aquele que vigorava até então…
- C) DA VIOLAÇÃO DO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES DOS ARGUIDOS PARA EFEITOS DE OBTENÇÃO DE PROVA, POR ORDEM DO MINISTÉRIO PÚBLICO
- Prosseguindo na análise das questões colocadas pelo meu Ilustre Colega Dr. Sérgio Raimundo, deparamo-nos agora com a ordem promanada da Direcção Nacional de Investigação Criminal, dirigida à operadora telefónica à qual estão associados os telemóveis dos arguidos, no sentido da obtenção do histórico das chamadas realizadas por estes.
- Está-se aqui perante um acto de uma autoridade judiciária que briga, como admite o próprio TCA, com a tutela constitucional conferida ao sigilo das comunicações, nos termos do artigo 34.º da CRA, que de resto merece ser citado:
“1. É inviolável o sigilo da correspondência e dos demais meios de comunicação privada, nomeadamente das comunicações postais, telegráficas, telefónicas e telemáticas.
- Apenas por decisão de autoridade judicial competente proferida nos termos da lei, é permitida a ingerência das autoridades públicas na correspondência e nos demais meios de comunicação privada.”
- O que aqui se estabelece é, incontornavelmente, que apenas uma autoridade de natureza judicial cuja competência esteja fixada por lei, pode proferir uma decisão restritiva deste direito fundamental.
- A CRA fixa, deste modo, o órgão do Estado com legitimidade para o proferimento de uma tal decisão, e essa atribuição tem esteio no princípio da separação de poderes (v. artigo 2.º n.º 1 da CRA), sendo os tribunais os portadores do facho da função jurisdicional.
- Não obstante, o TCA procura justificar o acto, que diz ter sido praticado pelo Ministério Público, dizendo que, por nos encontrarmos numa fase transitória, em que ainda não foram legislativamente criados os “juízes de instrução” que serão competentes para ditar uma tal derrogação do sigilo das comunicações, o Ministério Público deve ser considerado competente para esse efeito.
- Uma tal justificação não se pode razoavelmente aceitar.
- Antes de mais, clarifique-se que o acto provém, não do Ministério Público, mas sim da Direcção Nacional de Investigação Criminal, pertencente à “Polícia Nacional”, ora, não se pode confundir um órgão policial com o próprio Ministério Público, não obstante o auxílio mútuo entre as duas entidades em sede de investigação criminal.
- Em qualquer dos casos, a inadmissibilidade do acto aqui em causa, que de seguida se defenderá, independe do mesmo ter provindo do referido serviço policial ou do Ministério Público, pelo que não me deterei mais sobre a discussão da sua específica autoria.
- Muito ao contrário do que afirma o TCA, é meu entender que a “situação transitória” a que o mesmo se refere só pode ditar que um tal acto seja de todo vedado, maxime a entidades não judiciais.
- Para o concluir basta atentar na previsão constitucional da faculdade de restringir em concreto o direito ao sigilo das comunicações: há aí uma remissão total para a lei (embora com respeito pelos princípios constitucionais conformadores da mesma) do regime da prolação de decisões restritivas nestes termos.
- Admitir que uma entidade policial ou o Ministério Público têm provisoriamente competência para um tal expediente é o mesmo que outorgar-lhes, de modo no mínimo preocupante, uma “carta branca” quanto ao momento, forma e conteúdo do mesmo.
- Ora, isso seria, por si só, incompatível com a natureza do próprio Ministério Público, que está, por excelência, vinculado ao princípio da legalidade na sua actuação – vinculação que bem transparece do disposto no artigo 185.º n.º 2 da CRA, que estatui que “[a] autonomia do Ministério Público caracteriza-se pela sua vinculação a critérios de legalidade e objectividade”; de igual guisa dispõe o subsequente artigo 186.º n.º 1 da CRA que “[a]o Ministério Público compete representar o Estado, defender a legalidade democrática e os interesses que a lei determinar”.
- Além do mais, sempre resultaria violado o princípio da separação de poderes que surge intimamente ligado ao critério de fixação de competência presente no artigo 34.º do CRA.
- O entendimento propugnado pelo TCA neste ponto revela-se, portanto, totalmente deslocado daquilo que resulta expressamente das disposições constitucionais aplicáveis.
- A isto acrescente-se ainda que tese avançada pelo TCA neste tema ignora ainda o regime constitucional aplicável às restrições de direitos fundamentais, nos termos do já analisado artigo 57.º da CRA.
- Nesse âmbito, e em complemento do que já ficou dito, merece especial destaque o atropelo que resulta do entendimento do TCA quanto à reserva de lei que é apanágio de tais restrições – lei que, neste caso, ainda não vigora no ordenamento Angolano.
- Em suma, a prática do acto em referência, com vista ao acesso pelas autoridades ao histórico e conteúdo de chamadas telefónicas dos arguidos ofende frontalmente o direito fundamental ao sigilo das comunicações que é titulado por estes; e a proveniência desse acto de um órgão não judicial consubstancia uma infracção directa à regra de competência constante do artigo 34.º da CRA, e consequentemente do princípio da legalidade que preside à actuação do Ministério Público; um tal acto afronta ainda o princípio do carácter restritivo das limitações aos direitos fundamentais e o princípio da separação de poderes.
- D) DO MANDADO DE CAPTURA E DA ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA PROVENIENTES DO MINISTÉIO PÚBLICO
- Discutamos agora a questão de saber se foi lícita a detenção e prisão de certos arguidos no processo aqui em causa, fora de flagrante delito, com base num mandado de captura proveniente do Ministério Público.
- O que acima se disse sobre a atribuição pela CRA da competência para a prática de certos actos a órgãos judiciais aplica-se na perfeição também a esta questão.
- De facto, e conforme foi certeiramente arguido pelo Dr. Sérgio Raimundo (v. artigo 21.º das referidas alegações de recurso), o artigo 186.º alínea f) da CRA estabelece que é aos tribunais que cumpre fiscalizar a actuação do Ministério Público, e essa fiscalização só se poderia concretizar, no que concerne à prisão preventiva, caso o processo decisório para a emissão de um mandado de captura passasse por um órgão judicial.
- Concordo ainda, plenamente, o argumento de maioria de razão esgrimido pelo Dr. Sérgio Raimundo, nas suas alegações do supra referido recurso (v. artigos 22.º e seguintes).
- Seguindo a sua posição, permita-se-me reforçar a ideia de que, se a CRA exige, para a limitação do direito fundamental ao sigilo da correspondência e das comunicação, uma decisão judicial, torna-se obrigatório extrair daí que também será exigido um tal acto para efeito de limitação de um direito fundamental de hierarquia superior – a liberdade individual dos cidadãos.
- No mesmo sentido, observe-se que o artigo 69.º n.º 3 da CRA estabelece, paralelamente, que “[é] igualmente proibido o acesso a dados pessoais de terceiros, bem como à transferência de dados pessoais de um ficheiro para outro pertencente a serviço ou instituição diversa, salvo nos casos estabelecidos por lei ou por decisão judicial”.
- O artigo 70.º da CRA, por seu turno, estatui que “[s]ó por decisão judicial pode ser determinada a expulsão do território nacional de cidadãos estrangeiros ou de apátridas autorizados a residir no país ou que tenham pedido asilo, salvo em caso de revogação do acto de autorização, nos termos da lei”.
- Vemos, assim, que sempre que a lei constitucional Angolana comete especificamente a certos órgãos do Estado a limitação ou restrição de direitos fundamentais – e considerando que a liberdade individual ocupa uma posição cimeira entre eles – essa incumbência recai sobre os tribunais, órgãos judiciais por excelência aptos a ajuizar da necessidade e pertinência de tão gravosas medidas restritivas.
- A acrescer ao exposto, há a observar que o princípio do carácter restritivo das medidas limitativas de direitos fundamentais, previsto no artigo 57.º da CRA, mediante os já analisados requisitos da necessidade e da proporcionalidade, tem a necessária decorrência de que os órgãos competentes para o proferimento de decisões que firam direitos fundamentais sejam aqueles que têm por principal responsabilidade a tutela desses direitos fundamentais, órgãos que sempre serão os tribunais – disso presta lídimo testemunho o disposto no artigo 174.º n.º 2 da CRA, que se cita:
“No exercício da função jurisdicional, compete aos tribunais dirimir conflitos de interesses público ou privado, assegurar a defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos, bem como os princípios do acusatório e do contraditório e reprimir as violações da legalidade democrática.”
- Em face do exposto, é de considerar que a Lei n.º 18-A/92 de 17/7, na qual o TCA faz assentar o entendimento de que um acto como o que aqui se discute pode ser praticado pelo Ministério Público, ficou afectada de uma inconstitucionalidade superveniente, com o advento da CRA de 2010, na parte em que comete exclusivamente ao Ministério Público (ou outras entidades não judiciais elencadas no artigo 12.º) a faculdade de ordenar a a prisão preventiva, por afrontar os princípios da separação de poderes, da legalidade e do carácter restritivo das restrições a direitos fundamentais.
- Em suma, a decisão subjacente ao mandado de captura e à prisão preventiva deve promanar de um órgão de natureza judicial, sob pena de não ser efectivar um controlo nos termos constitucionalmente exigíveis sobre a legalidade e oportunidade dessa medida.
- E) DOS ENTRAVES COLOCADOS AOS ARGUIDOS NO CONTACTO E ACESSO AOS SEUS DEFENSORES FORENSES
- Neste capítulo, algo residual, do presente estudo, atente-se na alegação por parte dos arguidos no procedimento criminal em referência, no recurso extraordinário de inconstitucionalidade, de que sofreram diversas limitações no seu direito de contactar os respectivos advogados, e viram-se privados da presença destes em múltiplos actos processuais, numa grave violação ao princípio da igualdade que ditaria uma equiparação destes sujeitos processuais a quaisquer outros na efectivação das garantias assim preteridas.
- A esta invocação vem o TCA responder, de forma até um pouco esquiva, que “o princípio da igualdade não deve ser assumido de forma descontextualizada”, e que “a qualidade e a responsabilidade que os Recorrentes têm no seio da organização do Estado justifica que, no âmbito criminal, os mesmos tenham um tratamento diferenciado dos demais comuns cidadãos”.
- Tudo visto, o TCA não responde propriamente à grave alegação feita pelos aí Recorrentes, deixando desatendida o que se afigura uma clara e gravíssima violação de direitos fundamentais dos mesmos.
- Com efeito, no que concerne à assistência do arguido por defensor, em especial quando se encontre preso, o artigo 67.º da CRA, nos seus n.ºs 3, 4 e 5 dispõe, imperativa e taxativamente, o seguinte:
“3. O arguido tem direito a escolher defensor e a ser por ele assistido em todos os actos do processo, especificando a lei os casos e as fases em que a assistência por advogado é obrigatória.
- Os arguidos presos têm o direito de receber visitas do seu advogado, de familiares, amigos e assistente religioso e de com eles se corresponder, sem prejuízo do disposto na alínea e) do artigo 63.º e o disposto no n.º 3 do artigo 194.º.
- Aos arguidos ou presos que não possam constituir advogado por razões de ordem económica deve ser assegurada, nos termos da lei, a adequada assistência judiciária.”
- Assim, torna-se simplesmente indefensável que o estatuto de militar sirva de pretexto para proclamar desigualdades também quanto a este direito fundamental de cariz processual.
- Ademais, o meu entendimento sobre supostas restrições das garantias processuais penais em função da qualidade de militar foi já acima objecto de uma detida exposição, para a qual remeto neste ponto.
- F) CONCLUSÕES
- Expostos os frutos e as raízes, é altura de elencar as conclusões a que o presente estudo me conduziu.
- A) Os princípios do contraditório e do acusatório, contemplados no artigo 174.º n.º 2 da CRA, vigoram irrestritamente tanto no processo penal comum, como no processo penal militar.
- B) Estes princípios conformam o direito de defesa que é titulado pelos arguidos em processo penal, nos termos do artigo 67.º da CRA, pelo que a sua eventual restrição sempre teria que respeitar os requisitos gerias das limitações admissíveis quanto as direitos fundamentais, previstos no artigo 57.º da CRA.
- C) Assim, a restrição a tal direito com o fundamento de que os arguidos aqui em causa têm o estatuto de militares, como pretende o TCA, não respeitaria os requisitos da necessidade e proporcionalidade previstos no referido artigo 57.º da CRA, porquanto em nada essa limitação seria apta a tutelar um qualquer direito ou interesse fundamental conflituante, que nem tão pouco é identificado pelo Tribunal.
- D) Ao invés do sustentado pelo TCA, as responsabilidades agravadas inerentes ao estatuto de militar e as correspondentes punições acrescidas sempre ditariam um reforço das garantias processuais penais aplicáveis aos militares, numa interpretação constitucionalmente integrada.
- E) Essa plenitude de vigência dos princípios do contraditório e acusatório no âmbito do processo penal militar tem como corolário que aos arguidos nesse tipo processual seja garantida a faculdade de requerer a instrução contraditória, com base na acusação contra si deduzida.
- F) O desiderato invocado, em sentido contrário, pelo TCA de que neste tipo de processo é necessário garantir “um procedimento célere e expedito”, não é apto a justificar uma restrição ao direito fundamental de defesa, consistente na negação da supra referida faculdade processual, pois não aponta para qualquer especificidade do processo penal militar que o diferencie dos demais.
- G) No mesmo sentido milita a Lei ordinária Angolana, porquanto o artigo 34.º da lei n.º 5/94 de 11/2 estabelece expressamente que ao processo penal militar é aplicável subsidiariamente o regime processual comum – que contempla justamente a faculdade do arguido requerer a instrução contraditória.
- H) A conjugação dos artigos 45.º e 48.º da Lei n.º 5/94 de 11/2, interpretados à luz dos princípios do contraditório e do acusatório, não poderia conduzir à conclusão, sustentada pelo TCA e demais autoridades intervenientes, de que a decisão de acusar fosse submetida a um controlo efectivo pelo juiz competente sem ser dada ao arguido a oportunidade de se pronunciar, deduzindo a sua defesa e juntando aos autos os elementos do respectivo suporte.
- I) Ora, a função da instrução contraditória é precisamente a de submeter ao conhecimento do juiz a posição do arguido em contraposição à do Ministério Público, de molde a permitir uma decisão judicial sobre a pertinência da acusação em termos instruídos e conformes com as exigências do contraditório.
- J) Assim, a preterição da notificação da acusação aos arguidos, para efeitos da instrução contraditória, não pode consubstanciar uma mera irregularidade como defende o tribunal, mas sim a nulidade absoluta prevista no artigo 98.º § 1 do CPP; em qualquer dos casos, nunca esta invalidade processual seria passível de sanação nos termos do artigo 100.º pela notificação do despacho de pronúncia, não tendo esse entendimento qualquer respaldo legal.
- L) Releva mencionar que, durante a época histórica do regime fascista e do colonialista, que foi comum a Portugal e Angola, o processo criminal militar era regido pelo Decreto n.º 11.292 de 28 de Novembro de 1925, o qual previa expressamente a notificação da acusação aos aí arguidos para efeitos da dedução pelos mesmos da instrução contraditória.
- M) Consequentemente, é forçoso constatar que o entendimento restritivo propugnado pelo TCA e pelas autoridades Angolanas intervenientes no processo em causa traduz-se num incompreensível retrocesso relativamente a essa lei anterior, em detrimento das garantias processuais penais que são corolário do Estado de Direito Democrático.
- N) Nos expressos termos do artigo 34.º da CRA, uma ordem estatal dirigida a uma operadora telefónica para acesso ao histórico e conteúdo de chamadas telefónicas deve promanar de um tribunal, enquanto órgão judicial, e não do Ministério Público, ou de uma entidade policial, que não detêm essa qualidade.
- O) A preterição deste requisito de legitimidade origina uma violação do princípio da legalidade que deve presidir à actuação das autoridades judiciárias, bem como ao princípio da separação de poderes; e o entendimento do TCA em sentido contrário inobserva por completo o princípio do carácter restritivo dos direitos fundamentais, porquanto exprime uma abertura desnecessária a desproporcional à aplicação de tais medidas.
- P) O mandado de captura e a ordem de prisão preventiva que recaíram sobre os arguidos não poderiam provir, como foi o caso, do Ministério Público.
- Q) Com efeito, uma decisão restritiva nesses termos do direito fundamental à liberdade individual, num Estado de Direito Democrático, terá necessariamente que ser tomada por um órgão judicial, por ser aquele que é constitucionalmente legitimado, e mais apto para esse efeito, em virtude da aplicação dos princípios da separação de poderes, da legalidade e do carácter restritivo das medidas restritivas dos direitos fundamentais admissíveis.
- R) No mesmo sentido, atestam as exigências constitucionais expressas de uma decisão de natureza judicial para efeitos de aposição de limitações, em concreto, a bens fundamentais de hierarquia inferior ou semelhante ao direito fundamental à liberdade.
- S) Por isso, conclui-se, neste ponto, que a Lei n.º 18-A/92 de 17/7, na qual o TCA faz assentar o entendimento de que um acto como o que aqui se discute pode ser praticado pelo Ministério Público, ficou afectada de uma inconstitucionalidade superveniente, com o advento da CRA de 2010, em função do desrespeito pelos princípios constitucionais acima referidos.
- T) Toda e qualquer limitação à faculdade dos arguidos contactarem e interagirem com os seus defensores constitui uma afronta ao disposto no artigo 67.º n.ºs 3, 4 e 5 da CRA, que eleva essa prerrogativa ao grau de direito fundamental.
- U) Nem tão pouco a qualidade de militar dos arguidos pode servir de pretexto para uma diminuição desta faculdade, porquanto esse entendimento não encontra o mínimo esteio nos termos incondicionais e incontornáveis em que está redigido o referido artigo 67.º n.ºs 3, 4 e 5 da CRA.
[1] No sentido do texto, veja-se a autorizada doutrina do Prof. Jorge Miranda, anotação feita por si ao artigo 18.º da Constituição da República Portuguesa (que, como se disse, é de conteúdo semelhante ao artigo 57.º da CRA), in “Constituição Portuguesa Anotada”, Tomo I, Coimbra Editora, 2005, pág. 162.
[2] Em corroboração do exposto, e para uma análise mais detalhada dos regimes históricos em referência, veja-se a obra do Prof. Paulo Pinto de Albuquerque, “A reforma da justiça criminal em Portugal e na Europa”, Almedina, 2003, pág. 813 e seguintes.