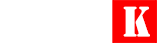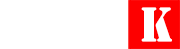Lisboa - O rosto da oposição civil ao regime de José Eduardo dos Santos — e do seu candidato, o general João Lourenço — tornou-se muito conhecido, em 2015, durante uma greve de fome de 36 dias, que quase o matou. O cárcere político impôs-se, escreveu-se na altura, por causa da discussão de um livro. Luaty Beirão era, porém, há pelo menos uma década, uma voz dissonante. Alguém, que tendo crescido dentro do próprio regime, um dia o enfrentou para o criticar, sabendo que isso lhe poderia valer uma sentença de morte. Não nos teríamos surpreendido, por certo, quando decidiu prolongar a greve de fome até ao limite, enquanto todos os outros companheiros desistiam, se tivéssemos tido conhecimento da existência nele de uma espécie de vontade indómita, que o fez, anos antes, ir de Portugal a Angola à boleia, com apenas 100 euros no bolso. Luaty Beirão tornou-se o líder de uma geração que ficou conhecida por “revús”; e ainda que o termo lhe desagrade bastante, as ações desses “révus 15+2” ajudaram alguns a derrotar o medo. Nos últimos meses, o seu desejo de uma nova Angola fê-lo agir fora do sistema. Transformou-se num vigilante que a cada momento alerta para a areia que é colocada na engrenagem de um sistema eleitoral cujas irregularidades ele denúncia. Esta conversa, contudo, não se fez apenas do futuro, dos desejos de um país transformado, sonhado, democratizado, mas também do passado, do lugar de onde vem, do avô, rebelde em Moçambique e preso político em Caxias, do pai, homem próximo a José Eduardo Santos, que nunca endoutrinou o filho, ou da mulher, Mónica, jovem empreendedora, menos comprometida com a política, mas que o apoiou na pior fase da sua luta. E, por fim, do amor a um país do qual ainda não desistiu.
Fonte: Expresso
 Tem feito uma série de denúncias sobre as irregularidades do processo eleitoral. Há sinal por parte das autoridades de que os seus protestos são ouvidos?
Tem feito uma série de denúncias sobre as irregularidades do processo eleitoral. Há sinal por parte das autoridades de que os seus protestos são ouvidos?
Nunca respondem oficialmente, mas reagem. Há uns meses, por exemplo, quando denunciei nas redes sociais o facto de um outdoor de João Lourenço ter sido colocado dentro de uma escola, frente ao governo provincial, o cartaz acabou por desaparecer. Nunca explicam porque tomam as atitudes, nem dizem a quem estão a reagir. O importante é que reagem, tiram o cartaz, repõem a legalidade, ainda que não punam o infrator. Como o infrator é o MPLA a impunidade é completa. Outras vezes usam a imprensa para desmentir o que se diz nas redes sociais. Só aparece a parte do desmentido, não aparece a parte da acusação. Enviei duas cartas à Comissão Nacional de Eleições (CNE), uma exclusivamente em meu nome e outra já com alguns subscritores, e até hoje não houve resposta. Em muitos casos não sou o ponto de partida da denúncia, como aconteceu com o cartaz no qual aparecia João Lourenço como único candidato e o logótipo da Comissão Nacional de Eleições (CNE). Quando partilhei no Twitter já tinha causado muito ruído e choque nas redes sociais...
Depois disso alguém pintou por cima do logótipo da CNE as cores da bandeira que também são as do MPLA...
Duvido que tenha sido a CNE a fazer algo tão grosseiro. O que queremos é que a CNE se desmarque e diga que não tem nada a ver com isso. A forma de ajudarem um concorrente, que é sempre o mesmo, é mais subtil, e passa por exemplo por criar regras que não estão na lei. De repente, como aconteceu no final de julho, passaram a exigir aos delegados de lista novos critérios para serem aceites. De um dia para outro, e com o prazo a terminar, alteraram os critérios para os partidos nomearem os observadores que irão estar nas mesas de voto. É isto que a CNE faz para minar o processo eleitoral. Ora, se não se consegue ter representantes dos vários partidos nas mesas de voto o processo está desde logo inquinado.
Há ainda a questão de terem afastado a possibilidade de a União Europeia (UE) aparecer como observadora...
Eles foram muito matreiros. Não recusaram a União Europeia (UE). O José Eduardo dos Santos fez um convite à UE em cima do prazo que esta tinha dado, e depois não quiseram assinar o memorando no qual lhes era pedido algumas garantias. Sem esse memorando assinado deduz-se que a UE não venha. Embora a UE ainda não tenha dado uma resposta definitiva. Angola já disse que não precisa de lições da UE sobre democracia ou eleições...
Qual é a sua expectativa?
Dizem que sou um pessimista, mas o que eu estou a ver é a repetição de um filme a que já assisti em 2012. As denúncias são iguais às de 2012 e o que é mais perverso é que até as empresas suspeitas de fraude, sobre as quais foram entregues documentos em tribunal que comprovavam a deturpação do processo, foram de novo contratadas através de concursos públicos duvidosos. Repetem-se as mesmas queixas por parte da oposição. O MPLA vai ganhar. Vai-se denunciar a fraude, e depois todos se sentarão alegremente no parlamento para receber as benesses. Daqui a cinco anos voltamos a conversar. Essa é uma das razões pelas quais decidi não participar neste teatro. Vou pôr um voto numa urna? Não sei o que vai acontecer com aquela urna, ainda mais agora, que não querem que os observadores dos partidos estejam lá. Se eu não tenho confiança no processo, se eu não sei se o meu voto vai ser contado, o que vou fazer ali? Legitimar uma batota?
Não seria melhor estar dentro do processo?
Fiz isso em 2012. Senti-me ultrajado, roubado. Votei e fiz a monitoria. Não vou meter-me no mesmo carro, com os mesmos assaltantes, com o mesmo valor no bolso, para ser roubado de novo. Se ao menos eu agora pudesse arriscar porque existe algo de novo, um polícia no carro... Não vou diminuir-me à condição de pateta alegre que se entrega às mãos dos bandidos a cada cinco anos. Alguns de nós tentámos aproximar-nos dos partidos da oposição para criar esse novo elemento e dar um sinal forte à sociedade. Tem de se perceber os números da abstenção. As pessoas têm de ser conquistadas. 40 por cento de um universo de nove milhões e meio é muita gente.
Provavelmente, as razões para abstenção não serão só políticas. Para muitas dessas pessoas a prioridade não será votar, mas chegar ao fim do dia e ter conseguido comer...
Embora não deixe de concordar que para algumas pessoas tanto lhes faz, porque ganham a vida sem intervenção do Estado, isso não é o que acontece com a esmagadora maioria que vive nos centros urbanos. É preciso perceber que o regime intimida as pessoas. O que lhes diz é: “Se não votares não vais conseguir tratar disto ou daquilo, não vais poder viajar porque não vais ter documentos.” Eles nunca o fazem de forma oficial, mas disseminando informações. A minha sogra, por exemplo, não se registou para votar, mas no final veio dizer-me que afinal ia-se registar porque “eles dizem...” Eles quem? Este tipo de pressão é forte o suficiente para as pessoas se sentirem obrigadas a cumprir os trâmites que eles impõem.
Disse que queria convencer os partidos da oposição a dar um sinal forte. Que sinal?
É preciso dizer às pessoas que há razões para voltar a ter esperança. Os partidos da oposição deveriam ir a eleições como uma força única, uma coligação que reduziria o número de opções no boletim de voto e poderia envolver elementos da sociedade civil. Mas o grande problema dos partidos da oposição é: “Quem vai dirigir a coligação?” A sugestão era que não fosse nenhum dos presidentes dos partidos, de modo a mostrar às pessoas que os partidos são capazes de colocar o país acima dos objetivos imediatos... Podia ser que pessoas como eu, que estão desencantadas, pudessem sentir que estávamos de facto perante algo novo... Vamos imaginar que Rafael Marques, por exemplo, podia liderar esta coligação, uma figura consensual entre os que estão cansados do regime, e que poderia chegar a uma sociedade que está à procura de pequenos heróis. Se tivéssemos o Rafael Marques como cabeça de lista de uma coligação dessas eu acho que haveria muita gente galvanizada para voltar a dar uma oportunidade ao processo eleitoral.
O Rafael Marques tem capacidade de alcançar votos além de Luanda?
Não sei Denúncia. Luaty Beirão diz que “o importante é que reagem, repõem a legalidade, ainda que não punam o infrator”
Não poderá estar a imaginar uma hipótese a partir de um pequeno mundo, o de uma certa elite intelectual, de Luanda?
É possível que sim.
Quem é que conhece o Rafael Marques?
As pessoas que têm acesso à internet. São cerca de 20 por cento.
Há um lado utópico no seu discurso. Por exemplo, no livro fala do perdão, da pacificação dos corações para começar do zero. Independentemente da guerra civil, e das questões políticas, será isso possível num país tão tribal como Angola?
Não sei se é possível. Mas se não tentarmos também não vamos saber. Se houver vontade de fazer as coisas...Correu bem na África do Sul? Não sei. Parece que sim. Mas se formos lá ainda vemos ressentimentos, coisas por resolver. Será que funciona? Não sei. Não acho que se deva perdoar por perdoar, que se deva esquecer tudo. O perdão não deve ser incondicional. Por outro lado, se o Rafael Marques não é conhecido, isso pode resolver-se com comunicação. Até podia ser outra pessoa. Precisamos de uma figura que seja consensual, que tenha noção de que é preciso transformar isto.
E porque é que o Luaty não se coloca nessa equação?
Simplesmente porque não me vejo nessa maquinaria. Quero estar do lado de cá, da sociedade civil, do lado daqueles que promovem e defendem as ideias, sem ter de ser o protagonista dessas ideias. Não quero estar lá, como cabeça de cartaz, como o timoneiro deste barco, pelo menos para já. Não sinto que tenha a maturidade política, nem a vontade de enfrentar a dimensão do desafio. Não tenho a apetência para governar o meu bairro quanto mais o meu país. Mas tenho ideias para dar, e elas podem ser mais ou menos válidas.
Se alguém lhe tivesse dito um dia que ia fazer uma greve de fome também teria acreditado?
Não. Mas também não sei se teria dito “nunca”. Não sei se um dia não me vou vergar à pressão que existe para deixar de fazer o que faço. Não sei o que me espera. Que variáveis podem aparecer. Dizer que algo é impossível ou que nunca vai acontecer nunca vai sair da minha boca.
Imaginando que João Lourenço ganha…
Ele já ganhou. Já cozinhou isso. Gostava que ele ganhasse da forma correta. Mas com tudo o que se passou já não é uma vitória justa, já se condicionou o voto das pessoas.
Se a vitória fosse justa aceitava ter um papel ativo num governo de João Lourenço?
Não. O único papel ativo que poderia ter era o de fazer propostas. Nunca poderia ser um membro oficial de governo, ainda mais com a má reputação que o MPLA tem... Gostava que o Estado, assumindo que não é capaz de fazer tudo, desse espaço à sociedade civil, a encarasse como um parceiro e aceitasse o auxílio que esta lhe pode fornecer. Eu teria várias sugestões para dar em vários domínios. Se calhar, e se houver alternância partidária, mais à frente, já pondero tudo de uma outra forma. Há pessoas de valor dentro do MPLA, capazes de produzir ideias. Não têm é capacidade de fazer frente, de fazer como nós dizemos aqui: “Cagar na fuba.”
Cuspir na sopa?
Sim, por exemplo. A nossa expressão é mais grave. A maior parte não é capaz disso. Mas claro que haverá lá pessoas com valor.
Escapar a pessoas do MPLA deve ser, aliás, difícil para si, não só por causa da sua família, do seu pai, mas também por causa da família da sua mulher…
Sim.
Como se gere isso?
Temos as nossas conversas. Lido bem com a situação. Com os mais ferrenhos evito entrar em certos assuntos que nos vão pôr a discutir. Para os que são mais moderados, a crítica é normal assim como a discussão. O pai da minha mulher, por exemplo: discutimos muito e debater é saudável. É bom perceber que há tolerância e abertura para ouvir os argumentos e contrapor. O confronto e o debate têm de se cultivar. Temos de aceitar que os outros pensam e sentem de formas diferentes.
No caso do seu pai, João Beirão, há alguma coisa que saiba que o envergonhe?
Não posso dizer que me envergonho porque não sei até que ponto é que ele esteve envolvido no 27 de maio, por exemplo. Essa era, sem dúvida, uma das coisas que eu gostava de aprofundar e de investigar. Gostava de ter elementos concretos sobre o envolvimento dele, enquanto elemento da DISA [polícia política até 1979]. Há algumas pessoas que dizem que foram interrogadas por ele. Eu falei com uma delas. Perguntei-lhe: “Como é que foi?”, “Como é que ele fez?” E essa pessoa desviou um bocadinho a conversa, disse que a atuação dele tinha sido mais a nível psicológico...
Quando diz que gostava de investigar é porque existe uma dor? Como é que se relaciona com esse passado?
Não penso muito no assunto. Mas quando leio sobre o assunto ou oiço pessoas falarem em palestras e penso que o meu pai esteve envolvido nessa história, de alguma maneira, a questão regressa. Sei que as ideologias às vezes cegam a razão das pessoas. Uma pessoa pode achar, no auge dos seus 25 aninhos [que era a idade que ele tinha na altura], que a sua ideologia é que é a certa; e que aqueles que ali estão à sua frente só querem tentar estragar o seu país: “Então essas pessoas não merecem estar aqui, têm de ser presas, ou têm de ser mortas.” Não quer dizer, porém, que ter defendido isso ao ponto de se envolver não venha mais tarde, em retrospetiva, a envergonhá-los. O meu pai não falava destas coisas. Quando era miúdo, ainda sem noção de nada, lembro-me de ter querido ler sobre o assunto e de ele ter respondido desvalorizando: “Eu tenho isso aí, mas não vais entender nada.” Agora, já não posso confrontar o meu pai, mas sei que ele não vivia com a consciência tranquila. Houve muita gente que acreditou e que quando viu o comboio a descarrilar se deve ter sentido traída. Desperdiçaram a sua juventude. Fizeram coisas de que se arrependeram. Mas o meu pai não se abria.
Como é que percebeu isso?
Era a forma como ele vivia o dia a dia. Ao chegar a casa parecia sempre cansado e abatido. Poucas vezes contava piadas ou ria, e quando isso acontecia esses momentos eram pequenos oásis para fugir à sua nuvem, que era omnipresente. Era uma pessoa não realizada.
Morreu novo...
Sim. Era muito desregrado. Fez três bypasses no coração. Proibiram-no de ter uma certa alimentação. Essa parte conseguiu cumprir. O mesmo já não aconteceu com a proibição de fumar e beber. Desenvolveu diabetes, e a doença foi fulminante.
Não teve oportunidade de conversar com ele?
Nunca o senti muito doente. Foi fulminante, e eu passei vários anos a estudar no estrangeiro.
Na prisão sentiu, porém, a necessidade de lhe escrever uma carta…
Senti que tinha de falar sobre ele. Queria escrever como se estivesse a dirigir-me a ele, mas apenas numa vertente artística, até porque não sou crente. Foi um desabafo. Tinha necessidade de imaginar que ainda lhe podia falar e ele me poderia ouvir. Queria saber o que teria feito se ele ainda ali estivesse, se teria outras precauções para defender a família... até porque ele sempre me disse que a família vem sempre primeiro, e que se deve defendê-la não importa o quê.
O seu pai era angolano, mas com pais com origens em Aveiro?
Sim. Recentemente conheci em Portugal uns familiares do meu pai. A história que me contaram foi a de que a família ia mais para Moçambique do que para Angola. Só que o meu avô foi preso em Moçambique por atividades subversivas contra o regime de Salazar e foi deportado para Portugal. Ficou preso em Caxias. Acabou por ser solto na condição de não voltar a Moçambique. Como não queria ficar em Portugal foi para Angola, de onde mandou chamar a minha avó. Em Angola, nasceram o meu pai e o meu tio.
Quer dizer que há na família uma história de resistência e rebeldia anterior à sua?
Sim. E o que é bastante irónico, e até estranho, é que o advogado do meu avô terá sido depois um ministro de Salazar, pai daquela senhora, deputada do PS, que fez uma intervenção de dez minutos a defender-me no Parlamento português.
Isabel Moreira, filha de Adriano Moreira.
Sim, só não sei se ele se vai lembrar do meu avô.
No último livro de José Eduardo Agualusa há uma personagem inspirada em si. Trata-se de uma menina, filha de uma mãe do MPLA e de um intelectual, que faz greve de fome. Numa carta essa rapariga escreve: “Primeiro achei que Angola era o nome que se dava à rede de condomínios onde vivem a mamã, os tios, os avós e todos os amigos deles. [...] Acreditava que também os nossos empregados vivam em condomínios [...] Mais tarde, achei que Angola fosse constituída na sua maioria por artistas boémios que se reuniam aos sábados nos apartamentos uns dos outros, a beber cerveja, a fumar liamba, a discutir projetos que nunca realizarão. [...] Só conheci a Angola dos pobres [...] há poucos anos. [...] Vim para esta cadeia porque decidi ser angolana. Estou a lutar pela minha cidadania.” Também começou por acreditar que Angola era só aquela dos condomínios fechados?
Não sei, querendo ou não, fui tendo contacto com aquilo que para mim ainda eram microrrealidades. Olhando para trás... Vivi 17 anos da minha vida num perímetro de 20 quilómetros quadrados, da escola para casa, da casa para o Mussulo, da casa para o aeroporto. É uma loucura. Não há como ter noção do universo em que vivemos quando estamos dentro de um átomo, e o átomo em si já é bastante mais complexo. Lembro-me de no caminho para a escola ver miséria na rua. Não podia achar que só existia o mundo dos condomínios. Percebo a metáfora, tem a ver com a inocência, muitas vezes voluntária, com a procura de proteção... Se eu souber demais não vou estar tranquilo e eu também tenho de viver a minha vida. Há uma altura, porém, que uma pessoa ganha maturidade e se torna insustentável. Em suma, identifico-me em parte com essa descrição da menina que andou iludida...
Também existiram os intelectuais ou os artistas?
Intelectuais, para mim, são aqueles que me fazem refletir, me ajudam a pensar. Senti uma grande carência disso, o que não quer dizer que as pessoas que me rodeassem não tivessem lido muito, mas toda a gente evitava tocar em assuntos que obrigassem a refletir porque refletir era justamente um perigo. E ainda é, como pudemos constatar recentemente. Não se discutia a situação do país para proteger a prole.
Já há mais abertura?
Sim, com as pessoas com que me dou. Mas ainda não sinto que se tenha discussões em casa com os filhos. Na minha geração já há pessoas dispostas a conversar, embora seja muito pontual.
A Mónica, a sua mulher, apoiou-o, mas tem convicções diferentes das suas. Discutem política?
Raramente. A Mónica assume-se como uma capitalista convicta, entre aspas, porque não pega na parte política, mas na parte económica e financeira. É empreendedora. Quer ganhar o dinheiro dela e tanto quanto for possível com o trabalho que faz, independentemente das relações de favorecimento e de privilégios das quais possa beneficiar. A parte política não lhe interessa. Acha que tem de aproveitar o que tem, e fazer o melhor por si. Entre nós raramente falamos sobre isto. Temos algumas discussões, o normal entre casal.
Mas ela apoiou-o...
Ela não me apoiou sempre. Ela apoiou-me depois de eu ser preso. Apesar de discordar dos meus métodos e das minhas posições políticas, ela discordava ainda mais do facto de ter o marido e pai da filha preso porque estava a ler um livro. Aí, ela engajou-se mesmo muito, correu riscos, perdeu oportunidades de trabalho. Fê-lo porque tinha uma urgência de algo que lhe era superior, e eu tenho que admirar isso. Assim que fui preso pensei: ou ela desenvolve um lado mais acutilante sobre o que é a justiça e a injustiça social e percebe finalmente aquilo porque me bato ou vai acusar-me de ter-me metido nesta alhada e de ter arrastado a família e vai seguir a sua vida. Felizmente, foi a primeira hipótese...
Está preocupado com um país, um futuro coletivo, e a Mónica com um projeto de vida individual. São opções muito diferentes.
É verdade. Dizem que os opostos se atraem. Eu não sei explicar isso. Por um lado há coisas que admiro nela, por outro acho que precisamos de nos confrontar com o nosso oposto. Tento sempre ver as vantagens. Obrigam-me a cultivar o espírito da tolerância, a procurar uma forma de ser flexível, compreensivo, a perceber o outro e a incorporar em mim esse outro, embora não concorde. Em sociedade haverá sempre pessoas que pensam de forma diferente, que nos aborrecem, nos entristecem, nos deixam infelizes. Se a minha filha vier a ser do MPLA não vai deixar de ser minha filha. Será sinal que falhei nalgum lado.
Voltando à carta de Agualusa, qual é o momento que o leva a dizer que o que vê em Angola é demais, que é preciso fazer alguma coisa?
Há dois momentos que são pontos de viragem na minha vida. O primeiro acontece quando o meu amigo MCK me traz uma cassete com umas cinco músicas de uns artistas que vivem em bairros degradados. Começo a ouvir aquelas músicas e dá-me vontade de chorar, por perceber a profundidade intelectual daqueles rapazes, o nível de desafio que eles tiveram de enfrentar para conseguirem refletir daquela forma... Eles conseguiram superar todas as adversidades, foram contra os meus preconceitos, a crença de que quem não tem acesso à educação não consegue ir além do que lhe foi destinado. São heróis aqueles que vão contra tudo o que está programado para a vida deles. Fizeram-me pensar: “Se eles foram capazes de falar de um problema que nos afeta a todos porque é que eu não sou? Eu que tenho o privilégio de ter acesso à informação, aos livros, à internet? Se fingir que não é um problema, se não me envolver no problema serei parte dele, ainda mais porque tenho as ferramentas que fazem parte da solução.” O segundo episódio aconteceu em 2003, quando um rapaz cantou uma canção do MCK e foi assassinado pela guarda presidencial à frente de centenas de pessoas. Amarraram-no e atiraram-no ao mar à frente de um monte de gente que implorava para não o fazerem. Não deixaram socorrê-lo e ele morreu afogado. Tudo porque cantou três frases que ofenderam suas excelências. Disse que “o país tem mais armas que bonecas/ menos universidades que discotecas/ mais cantinas do que bibliotecas…” Frases inocentes. Não era a minha música [‘A Téknika, As Kausas e As Konsekuências (Seii Lá Quê)’], mas de uma pessoa pela qual tenho muita estima. Fiquei tão angustiado que me senti obrigado a escrever uma música. Pensei: “Já não quero saber! Façam-me o que quiserem.” Escrevi ‘Kamikaze Angolano’ (2004), tema no qual abordo diretamente pela primeira vez o Presidente e a família dele. Foi o meu primeiro grande grito de Ipiranga. Tive receio de que aquela música me trouxesse a minha sentença de morte. O passo seguinte foi cantar a música em Angola. Estava borrado de medo... Não aconteceu nada; e a partir daí passei a pensar: “Afinal, ainda há espaço... Temos alguma liberdade de expressão.” Comecei a amadurecer em termos de consciência social... e as letras começaram a refletir esse processo mas também uma certa insatisfação. Cantar não é para mim suficiente. Sinto-me incompleto com a minha música. Sei que posso fazer mais. Só não sei o quê. Em 2011, acontece o terceiro ponto de viragem: determino que me envolverei mais. E estamos aqui.
Conseguiu fazer muita coisa desde que saiu da prisão?
Diria que sim. Uma das coisas que me deixa mais satisfeito é um projeto em que fazemos reportagens de violações de direitos humanos, de abusos. Chama-se “Central Angola 7311”. Entrevistámos testemunhas e familiares, tentámos abordar a polícia para termos o contraditório, embora nenhum de nós seja jornalista de profissão. Mas a urgência faz com que cada um de nós improvise. Estou muito satisfeito. Isto em si é muita coisa. Depois tenho um livro, “Sou Eu Mais Livre, Então” (Tinta da China, 2016) que me vai levando a viajar. E vai sair um novo, uma compilação das minhas letras, numa editora brasileira chamada Demônio Negro. Estou à espera que o “Sou Eu Mais Livre, Então” seja vendido em Angola. Sei que está bloqueado na alfândega.
No livro, numa carta que escreve aos companheiros, diz que já não são jovens “revús”. Já não quer que lhe chamem “revú”?
Nunca gostei do termo. Nunca o usei. Sempre o tentaram associar ao de arruaceiros. O José Eduardo dos Santos disse numa entrevista que esses jovens que andam por aí são uns frustrados. Reduziu-nos a esse epíteto. Depois deste processo [da prisão dos “15+2”] muitas pessoas deixaram de abraçar a ideia de que estávamos aqui para desestabilizar. Fomos elevados a um novo estatuto. Isso é uma conquista. Já há mais pessoas a desafiarem o próprio medo. O contexto social contribuiu, mas nós demos a nossa parte, e temos de nos congratular, sem acharmos que se não fossemos nós isso não teria acontecido. Tento manter os pés bem assentes na terra, apesar de ser difícil andar 500 metros na rua e não ser interpelado para me fazerem elogios rasgados. É importante não nos envaidecermos. Quando isso acontece perdemos o foco do que é realmente importante e começamos a pensar no que é que se pode fazer para se ser ainda mais adulado. Corrompe-se o propósito.
Sendo a Mónica mais engajada com a elite angolana, como não frequenta as festas?
A Mónica vai frequentemente sozinha, até porque vai trabalhar. Faz fotografia. Mas é evidente que pode sempre aparecer alguém da elite presidencial em qualquer evento a que eu vá. Ainda no outro dia, num casamento a que fomos, estive a duas mesas de distância do ministro do Interior. É preciso saber escolher os momentos. Se ele tivesse querido conversar sentava-me à mesa com ele e íamos conversar. Já tive a ocasião de lhe falar quando foi o assunto de Cassule e Kamulingue [ativistas políticos assassinados em 2012] e não me coíbo de dizer essas coisas... Mas não vou provocar esse tipo de situação numa festa de família, que vai causar mal-estar. Quando era miúdo, por exemplo, dei-me, bastante bem com os filhos do Kopelipa [general, ministro de Estado e chefe da Casa Militar de José Eduardo dos Santos]. Era uma amizade de ir às festas, de falar das miúdas. Não discutíamos o país. A Mónica dá-se muito bem com um dos filhos do José Eduardo, mas eu nunca estive com ele. Há quem diga: “Ah, e tal, cresceram juntos”, mas não é verdade. Nunca estive o palácio. Não conheço as instalações. Nunca privei com eles.
Mas há uma proximidade que o pode proteger?
Eventualmente, sim, protege-me. Há algo de informal. A Mónica pode telefonar, falar com quem está perto do poder sem subir muitas etapas. E há outras pessoas que podem decidir fazer coisas sobre mim...
Terá sido essa a razão porque a canção não determinou uma sentença de morte?
O MCK também não morreu. Às vezes não é fácil explicar. Ainda não percebi como é que eles fazem a gestão do medo. Percebo que nas manifestações não deixam o grupo aumentar. Partem logo cabeças. Têm medo que o grupo aumente. Daí a silenciar as pessoas para todo o sempre, a matá-las e eliminá-las...
Já o fizeram...
Sim, mas não é linear. Não podemos pensar: “Eu vou falar e vou morrer.” Não há um padrão. Não se sabe qual o ponto a partir do qual se morre. Por isso, também há muitas pessoas que preferem não procurar o limite, e então encolhem-se e não se metem em nenhum assunto.
Ser ativista não dá dinheiro. Como é que vive? O seu pai deixou-lhe dinheiro suficiente?
O meu pai morreu em 2006 e ainda não vimos um cêntimo. Ainda estamos num processo familiar litigioso... Durante alguns anos foi complicado explicar à família as minhas opções. O meu irmão, por exemplo, dizia-me: “Não entendo, tu tens tudo para seres o que quiseres nesta sociedade. Falas não sei quantas línguas, tens dois cursos, e escolhes não ser nada.” Foi difícil, durante um tempo, mas depois da minha prisão eles perceberam a dimensão e o impacto que o trabalho que escolhi fazer pode ter, a importância simbólica que pode ter para transformar o país. Todos concordaram. Mesmo a Mónica, que tem os seus trabalhos, não é insensível aos problemas do seu país. Eles perceberam que não podemos continuar assim, e deixaram de me ver como um peso. Tenho o privilégio de ter pessoas que me apoiam, e que durante muitos anos seguraram as pontas. O projeto “Central Angola 7311” é apoiado. Antes disso fazia traduções. Ter uma filha implica custos permanentes e as traduções pagam bem. Já não as faço por opção. Tenho muita coisa para fazer.
Existe uma hierarquia de cor de pele em Luanda que dá mais oportunidades a uns do que a outros?
Já existiu mais. A minoria de tom de pele mais claro está quase toda na classe alta. Vem de uma história de privilégios. Existe, de facto, essa elite que vem do tempo colonial, na qual me insiro. Há muito poucos exemplos, residuais diria, em que os mais claros sejam os mais pobres ou aqueles que vivam no gueto. Mas nem todo o branco está melhor posicionado na sociedade que qualquer preto. Dizer que há uma hierarquia de cores não é a melhor forma de descrever a sociedade angolana, mas a verdade é que mais facilmente se escolhe o branco numa entrevista de emprego só porque se é branco. Isso ainda é presente.
A luta é lenta. Idealmente seria possível ter uma democracia daqui a quantos anos?
A partir do momento em que tivermos dirigentes que se preocupam com o país e que invistam realmente no angolano e em Angola temos de esperar 30 anos. Só que esse momento zero ainda não chegou. A cada ano que passa são 30 anos que temos por começar. Temos de ter um sistema de ensino do qual nos possamos orgulhar, flexível o suficiente para se adaptar ao mundo, temos de investir na criança e no que ela vai ser... E isso não vai acontecer com o João Lourenço.
Há o risco de uma guerra civil?
O risco existe. Não sei o quão flagrante pode ser esse risco. Quem tem poder militar neste momento é o regime, é o MPLA, e o exército, portanto só haverá guerra se houver pessoas que não querem perder regalias e outras estejam dispostas a facilitar a existência de fações, que colidem. Caso contrário não tem como haver uma guerra.
Porque ama Angola?
Não sei dizer. Às vezes pergunto-me: “Porque voltei? Porque estou preso a isto? Porque me sinto ligado a algo que me trata tão mal?” A minha mãe desistiu há uns anos. Disse-me que percebeu que tinha de se ir embora no dia em que teve vontade de atropelar alguém. Não voltou mais.
Voltou para o ver na prisão...
Sim. Voltou pontualmente. E em momento algum, mesmo quando sentiu em mim o cheiro de acetona, a morte a chegar, pediu para eu parar.
Valoriza isso?
Sim, é preciso ser muito forte, ainda mais sendo mãe, para respeitar a minha convicção sabendo que aquela greve me estava a levar à morte. Foi de uma extrema coragem.
É um herói improvável?
Vocês [Expresso] já me chamaram isso. Não gosto de me ver nesses termos. Não devo olhar para mim dessa forma. Traz-me muita responsabilidade. Sou um cidadão preocupado, e devo agir independentemente dos riscos que isso comporte. Também percebo e concordo que o que faço possa ser considerado improvável. O mais fácil seria, de facto, fazer o que a maior parte das pessoas faz, não pôr em causa a minha família, pegar num desses empregos de 12 mil dólares, ganhar tanto quanto me fosse possível, e tranquilizar a minha consciência fazendo doações. Não sei que ligações fez o meu cérebro para eu decidir não prescindir da liberdade.