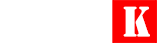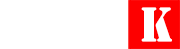Luanda - “Ataque à esquadra policial por divisionistas vs massacre contra os ‘bons manifestantes”, “condenação do Rei Ekwikwi vs direito costumeiro” e “dupla nacionalidade de presidenciáveis vs xenofobia” têm sido as palavras-chaves dos debates que animam a “maralha” desta sociedade política altamente competitiva, a gosto de Robert Dahl, o pai da poliarquia - uma unidade política onde os concorrentes políticos, além do respeito pelas leis e costumes, disputam o poder sem maquilhagens, nem acordos prévios.
Fonte: EK
 Angola é uma poliárquia? A resposta é sim. Quem tem coração de gafanhoto não se pode colocar nesta pista de leões, forjados em ambiente de guerra, mas hoje transformados em políticos, fazendo jus ao aforismo estratégico dos neo-clausewitzianos que definem a política como a continuação da guerra por outros meios.
Angola é uma poliárquia? A resposta é sim. Quem tem coração de gafanhoto não se pode colocar nesta pista de leões, forjados em ambiente de guerra, mas hoje transformados em políticos, fazendo jus ao aforismo estratégico dos neo-clausewitzianos que definem a política como a continuação da guerra por outros meios.
Para perceberem as motivações do “modus-operandi” dos principais actores do mercado político angolano, os mais novos terão de consumir centenas de horas em bibliotecas de ciências humanas. Não é com os olhos do idealismo que se percebe a discussão sobre a dupla nacionalidade em Angola, nem sobre a polémica no Mbalundu - já houve o caso kamutukulenu no Kwandu Kuvangu que levou um antigo governador à prisão -, nem muito menos o envolvimento de partidos e activistas políticos no caso Kafunfu.
O certo é que se actual oposição fosse o governo e o actual governo fosse a oposição, os acontecimentos ocorreriam na mesma lógica. Dito de outra forma, também o ataque ou tentativa de invasão à esquadra seria reprimido pela polícia e os tribunais condenariam o rei por ter sentenciado a tortura e consequente morte de um cidadão acusado de feiticismo, ao arrepio da Constituição e dos Direitos Humanos.
O debate, quase irreconciliável, que se instalou sobre estes temas, é puramente político, onde cada concorrente ao poder pretende fustigar e degastar a imagem do adversário. É a política vista a partir da sua face mais realista, cruel e assertiva, ao gáudio do estado de natureza de Leviatã de Thomas Hobbes, em que a força e a astúcia se sobrepõem ao romantismo platónico.
Os ataques da UNITA e os contra-ataques do MPLA devem ser vistos neste prisma, na medida em que o primeiro pretende o alcance do poder e o último a manutenção do poder. Como no teatro de guerra, na disputa política, toda a estratégia deve ser controlada medindo o meio, os meios e o tempo para a sua execução, sem descurar as próprias vulnerabilidades, a astúcia e a força do adversário.
Na sua jornada de fustigar o MPLA, a UNITA está com a estratégia de guerra-total, onde todos os meios lhe parecem pertinentes para levar o adversário aos caos e atingir o fim último. É nesta perspectiva que se pode perceber o seu envolvimento em manifestações e no caso polémico do Kafunfu, deslocando para o local uma legião de deputados, numa altura em que o assunto era de âmbito securitário ainda por se esclarecer.
Os tentáculos da UNITA estenderam-se até à embala do Mbalundu, cujo soberano é membro do Comité Central do MPLA, mas hoje a contas com a justiça pelas causas já atrás referenciadas. A UNITA ignora a incoerência da sua actuação, olhando apenas para o fim último: por um lado, condena a morte de cidadãos em Kafunfu, mas, por outro lado, já considera a condenação do rei um desrespeito ao Direito Costumeiro e ao símbolo da autoridade tradicional. Ou seja, o “Soma yonene”, ainda que tenha ordenando a tortura de um cidadão acusado de feitiço, é intocável. São os paradoxos e o cinismo políticos no seu melhor, confirmando a sentença de Nicolau Maquiavel - os fins justificam os meios.
Aliás, esta frase é tão bem praticada pelo partido de Mwangai que, pelo fim supremo (chegar ao poder e vingar-se da humilhação histórica), sacrificou a sua matriz de partido rural e africanista a favor de um aliado circunstancial: primeiro África do Sul de Apartheid e, agora, Adalberto Costa Júnior, filho de uma cabo-verdiana com um português.
ACJ
O silêncio dos actuais barões do partido do Galo Negro, como Gato, Numa, Samakuva, Kachiungo, Danda e outros, revela como o tema constitui uma espinha na garganta daquela organização que sempre se posicionou como principal defensora de angolanidade. Em nome da democracia, a UNITA conseguiu eleger um presidente que contraria todas as teses já defendidas pelo líder fundador.
Ao contrário dos nossos ziguezagues e pregadores da tolerância de conveniência, lá dentro da UNITA a subida de um estranho ao trono é constrangedora e perigosa. A UNITA sabe e sempre defendeu que um cidadão que almeja ser Presidente da República deve ter as suas origens inquestionáveis. Foi assim na ancestralidade em que o filho de escravo ou de estrangeiro, integrado na comunidade, jamais chegaria ao trono. Podia ser ministro do rei, mas nunca o soberano.
A proibição da dupla nacionalidade não é, pois, uma questão que se esgota em debates jurídicos ou em teses de sentimento de pertença. A substância deste debate vai para além do aparente. Mesmo nos EUA e na Europa, ninguém chegaria ao poder, se pelo menos um dos progenitores não tivesse nascido naquele país. No caso presente, o debate toma níveis estridentemente dissonantes por ACJ ter renunciado a outra nacionalidade na véspera das eleições do seu partido.
Que nos perdoem os legalistas, mas a legitimidade e a legalidade nem sempre coincidem, como é o caso da nacionalidade de um presidente da República que não deve ser reduzida ao mesmo nível de directores nacionais, ministros ou deputados.
A relação de um Presidente com a Pátria deve assentar na legitimidade histórica e psico-afectiva. Pois, nas relações internacionais, impera a relação “amigo inimigo”, de Carl Smith. Um Presidente com bases histórico-culturais movediças corre ao risco de se tornar num instrumento do Estado concorrente ou inimigo. Imagine um conflito entre Portugal e Angola ou entre Cabo Verde e Angola! Adalberto Costa Júnior estaria, afectiva e psicologicamente, num dilema existencial. Ele não é robô que apenas recebe estímulos de um profissional racional. Ele tem interesses e sentimentos de gratidão pela sua ancestralidade. É prevenindo estes comprometimentos psicoafectivos que a lei dos partidos políticos proíbe o financiamento externo.
O debate sobre nacionalidade sempre foi fracturante. Não é um exercício de mera vaidade ou de simples combate político. É antes demais uma preocupação com a identidade, com a incorruptibilidade e com a perenidade do Estado.
O MPLA diante do espelho
Desde a sua génese, o MPLA sempre colocou no centro do debate a origem dos líderes, com Viriato da Cruz e Mário António de Oliveira claramente opostos à dupla nacionalidade, temendo a infiltração do neocolonialismo no centro do poder da Angola independente.
Lúcido e avisado, Mário Pinto de Andrade cedo percebeu como a sua figura era inadequada para a mobilização dos militantes para luta contra o colonialismo. Um líder para o MPLA não bastava ter nascido em Angola, mas sobretudo ter as ossadas dos seus ancestrais no solo angolano e assim Agostinho passou a ser o Moisés.
A saga repetiu-se aquando da morte de Agostinho Neto. Lúcio Lara estava na posição imediata para suceder Neto. Foi, contudo, José Eduardo dos Santos o escolhido. Não por uma questão epidérmica, mas da ancestralidade (pai e mãe angolanos).
Admira-me hoje que os ziguezagues de conveniência, conhecedores da realidade, estejam a considerar este tema como um debate de surdos. Percebe-se intenção. Para uns (jornalistas renomados e activistas), quanto mais se juntarem ao coro protestante, mais o poder se verga à sua chantagem. O objectivo final é encarecer o serviço e impedir que as panelas entrem em greve. Para outros, em cujos livros exaltam, curiosamente, a Nação, a identidade nacional e a etnicidade, tudo o que saia do MPLA é tóxico e reprimível.
Apesar de todo este cortejo de cinismo, a UNITA está em modo de reflexão. O assunto não é para simples fanáticos, nem é “fast-food”. Pois, é um passivo, um incómodo, uma vulnerabilidade sem tamanho e um risco para a agenda de exaltação da angolanidade.