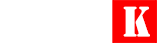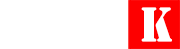Brasil - A acadêmica brasileira Maria Luiza, concedeu uma entrevista ao jornalista Domingos da Cruz, na qual abordou vários assuntos, neoliberalismo, globalização, direitos humanos, desenvolvimento, multiculturalismo, relação entre os países periféricos e do norte hegemônico. Uma senhora com um currículo invejável pela passagem em universidades, Americana, Inglesa, Irlandesa, Italiana e Portuguesa(Coimbra na qual fez Doutoramento em Ciências Jurídico-Económico), para além de possuir duas graduações em História e Direito, fez mestrado em Ciências Jurídicas na UFPB.
Fonte : Club-k.net
 A entrevistada surpreende pela profundidade rara na sua análise e nota-se também um discurso preocupado com a dignidade humana e valores! Leia.
A entrevistada surpreende pela profundidade rara na sua análise e nota-se também um discurso preocupado com a dignidade humana e valores! Leia.
Domingos da Cruz - Ao longo da história da humanidade sempre houve tentativas de construção e aplacação de formas de organização social, mas não funcionaram. Por exemplo, o comunismo tradicional cristão, o feudalismo, o comunismo cientifico de K. Marx em confronto directo com o capitalismo que transformou o mundo actual em tédio. Existem soluções para os problemas socioeconomicos do mundo? Os modelos econômicos e sociais serão mera retórica que beneficiam sempre uns poucos até nos fins dos tempos? Acredita no capitalismo, mesmo depois de ter transformado o mundo numa taça de champanhe do ponto de vista distributivo?
Maria Luiza - Nunca acreditei nem defendi o capitalismo como modelo, embora também ache que nunca tivemos grandes e reais alternativas para ele. As alternativas que surgiram se colocaram sempre dentro da própria estrutura capitalista, que se adaptou e superou a todas elas, como uma espécie de camaleão. O ideal socialista surgiu no contexto da miséria legada pela chamada Revolução Industrial, principalmente na Inglaterra, em meados do século XVIII – jornada de trabalho de 14, 16 horas por dia; expulsão dos camponeses de suas terras; exploração de mulheres e crianças etc. Isso ocorreu ainda no interior da luta dirigida pela burguesia contra a aristocracia que, economicamente decadente, dominava o poder político. Refiro-me aos socialistas utópicos.
Depois, em meados do século XIX, surgiu o socialismo científico de cunho marxista, doutrina que resultou de uma adequada apropriação do processo histórico e dos movimentos sociais, aliados à utilização de modelos e instrumentos de análises criados pelo próprio Marx, que se serviu da dialética (Hegel), da economia política (de Smith e Ricardo) e do socialismo pré-marxista (Thomas More, Baboeuf, Saint-Simon, Owen e Fourier, entre outros). Para Marx, o conjunto das relações econômicas de produção constitui o alicerce ou a estrutura sobre a qual se erguem as outras partes do edifício social ou as superestruturas - jurídica, política e ideológica. As contradições crescentes no modo de produção capitalista abririam caminho para a intensificação da luta entre as classes da burguesia e do proletariado que levaria, segundo Marx, à ruptura e à consequente superação do modelo pela implantação do socialismo, cujo estágio final seria o comunismo.
No entanto, tudo o que ocorreu dali em diante até os dias atuais sempre se assentou, como o próprio Marx previu, sobre a estrutura capitalista de produção. O fato é que as lutas acabaram se localizando nas superestruturas, sem nunca terem, de fato, comprometido e descaracterizado a base, ou seja, a estrutura capitalista. Nos países desenvolvidos, as mudanças vieram pela via das reformas, especialmente parlamentar e partidária; nos países mais pobres (ou em alguns deles), pela via da revolução, seguida da implantação da chamada ditadura do proletariado (caso da Rússia, por exemplo). Na prática, o reformismo (composto por revisionistas e marxistas moderados) dominou as Internacionais Socialistas dos movimentos operários. A inevitabilidade do pressuposto revolucionário para a transposição do capitalismo ao socialismo foi perdendo terreno até porque a supressão das liberdades nos países que fizeram a revolução (pela ditadura do proletariado) levava a grosseiros e violentos desrespeitos à pessoa humana e aos seus processos sociais. No contexto, o desenvolvimento das potências imperialistas e das rivalidades entre elas levou aos grandes conflitos armados europeus (com impactos mundiais), não tendo os partidos socialistas sido capazes de evitar o massacre da classe trabalhadora na guerra, salvo o caso dos bolchevistas russos que se aproveitaram do conflito para derrubar o regime ditatorial do Czar Nicolau II.
Atente-se que o campo de lutas e de reivindicações esteve sempre nas relações entre a economia e a política (entre a estrutura e as superestruturas, ou apenas entre estas).
Na verdade, capitalismo e Estado moderno são estruturas coligadas, surgidas do mesmo processo de modernização e unidas por vínculos de natureza funcional, de cunho predominantemente subjetivista (Hegel) e racionalista (desde Weber). As idéias centrais do conceito de modernidade remetem às noções (i) de subjetividade, que culmina no individualismo, e (ii) de racionalização, exponenciada na razão iluminista. Eis aqui o nexo funcional que se estabelece entre economia e política, ou entre mercado e Estado.
Podem-se demarcar alguns períodos importantes nas relações entre Estado e economia. De início, tem-se a economia mercantilista, adstrita à permissão e aos serviços de um Estado ainda incipente e sem as feições atuais. Depois das revoluções burguesas (de EUA e França), consolida-se o Estado liberal que segue até as crises que abalam o mercado (fins do século XIX, I Guerra e crack da bolsa de Nova York, de 1929). O Estado liberal existiu para minimizar o controle externo (estatal ou social) sobre a economia (Estado mínimo e mercado máximo). Na sequência, toma corpo o Estado de Bem-Estar social. Consolidam-se: o intervencionismo econômico do primeiro pós-guerra, a implementação do New Deal (nos EUA); o surgimento do keynesianismo (que consolida o Welfare State do segundo pós-guerra); as políticas estatais totalitárias vinculadas ao fascismo, ao sovietismo e ao corporativismo. É uma fase notabilizada pela emergência do chamado Estado intervencionista ou Estado-gestor direto e pela obrigatoriedade da planificação econômica, etapa assinalada pelo domínio das políticas macroeconômicas. Aqui, o Estado se maximiza para dar sustentação ao capitalismo. Diz-se que as políticas keynesianas vieram para salvar o capitalismo dos capitalistas.
No início dos anos setenta do século XX, entra crise do Estado de Bem-Estar, pela resistência do mercado neoliberal que preconizava (por seus teóricos, especialmente na academia) severas reações contra o Estado de Providência, gerando os movimentos de deregulation e as ondas de privatizações. O marco inicial desse novo processo pode ser identificado, genericamente, em três acontecimentos: (i) a saída dos EUA do sistema de Bretton Woods (1971); (ii) a crise petrolífera do Oriente Médio (1973); (iii) e a liberalização dos mercados financeiros ingleses (1980). Trata-se do fenômeno da globalização, que fortaleceu os mercados (de bens e serviços e financeiro) mundiais, com implicações diretas no debate político, social e jurídico, propagando-se especialmente sobre a dimensão welfarista dos Estados nacionais. Nesse momento, ocorre novo fortalecimento das teses liberais (tidas como neoliberais ou retroliberais) no âmbito jurídico-institucional e estatal. Novamente (e pendularmente), Estado mínimo e mercado máximo.
No início deste século, a globalização financeira, que se abasteceu do estímulo excessivo ao risco e transformou o mercado internacional em uma estrutura virtual, imaterializada e idealizada, sem controle externo, entrou em crise. O Estado foi chamado para salvar os bancos e as grandes firmas. Circularmente, o Estado voltou a amparar o capitalismo.
Enfim, para se identificar os motivos profundos dessas mudanças, é importante retornar ao ponto de partida ou às razões organizativas da instituição-Estado e da instituição-mercado, assinalando as raízes históricas do Estado e do capitalismo no contexto da modernidade. Alguns doutrinadores apontam uma “identidade de razão” entre o desenvolvimento do capitalismo e o desenvolvimento do Estado moderno e uma “identidade de raiz” entre a razão econômica e a razão de Estado. Para muitos, esse vínculo é indestrutível.
Entretanto, embora eu reconheça essa trajetória e faça esta leitura, recuso a idéia liberal do “Estado mínimo” e me coloco a favor da consolidação política de um “Estado social” que seja capaz de balancear as graves discriminações sociais que a economia de mercado assume como seu pressuposto e reproduz inevitavelmente. Encontro um elemento importante a fazer contraponto às teses de maximização do mercado e do Estado. São os agentes sociais. A sociedade civil mudou de perfil e pode ter uma atuação mais pontual e exigente. Se é certo que os processos de globalização alteraram, no contexto da política contemporânea, algumas funções keynesianas típicas do Estado, é igualmente correto admitir que o Estado nacional parece destinado a conservar muitas de suas funções tradicionais. A renovada concepção do papel do Estado, ante o surgimento no cenário jurídico global de atores diversos dos tradicionais, passa pelas teses de globalismo jurídico, podendo ser apontados como novos sujeitos (i) as instituições da global governance e da burocracia internacional; (ii) os agentes da lex mercatoria, as entidades supranacionais de vocação regional; (iii) as organizações não-governamentais ligadas à defesa do meio ambiente, da paz; e, por fim (iv), os movimentos da sociedade civil global.
Hoje, diferentes actores dão voz a novos interesses ou instâncias e provocam o surgimento de novas regras, interferindo nos processos normativos e decisórios. O direito tem-se afastado do centralismo jurídico positivista, ampliando o seu universo de oportunidades, não significando que as relações ordenadas segundo o paradigma estatal clássico tenham sido completamente substituídas. No conjunto, penso que a defesa dos direitos subjetivos, considerados como direitos humanos, mesmo aqueles que se afirmaram durante as revoluções liberais burguesas (de liberdade de pensamento, palavra e de comunicação pública) vem, fundamentalmente, da pressão exercida pela sociedade civil sobre os agentes do mercado e do Estado.
Reconheço, entretanto, que a economia de mercado e o seu voraz apetite têm avançado sobre os recursos naturais do planeta de maneira tão destruidora que, se algo não for feito já, é possível que não haja mais tempo. Conforme o italiano Luciano Gallino, o sistema econômico-financeiro segue comprometendo as próprias bases da subsistência do ser humano na terra.
Quando se fala de que o mundo está globalizado, não acha que talvez o correcto seria afirmar que existem globalizados e globalizadores? Ou seja, existem os globalizadores que movem, destroem e decidem na ordem econômica, política, ambiental e cultural mundial e uns que sofrem as implicações....
A despeito de toda a contradição que encerra, a expressão “globalização” (globalization, mondialisation, Globalisierung) foi uniformizada na cultura, na política, na economia, na sociologia e na multimídia, a partir dos últimos decênios do século XX. Eu consigo enxergar algumas leituras para o que se convencionou chamar “globalização”. Em primeiro lugar, há os que a inserem em perspectiva preponderantemente histórica e enveredam por análises interrelacionadas com a geografia (relações espaço/tempo), a sociologia (as conseqüências sociais do processo), a economia (evolução do modo capitalista de produção), a política (em âmbito estatal, internacional ou supranacional) e pela conjugação desses elementos entre si. Depois, há também os que optam por encarar a globalização como fenômeno cultural e ideológico, marcado pela uniformização do pensamento e pela massificação dos padrões de consumo, resultado da ação dos aparelhos ideológicos instrumentalizados pelos produtores da ideologia dominante. Para estes, a globalização é vista, em grande medida, como um mito que tende a paralisar as iniciativas nacionais ao exagerar no poder atribuído às forças econômicas contemporâneas. Há ainda os que preferem enxergar na globalização a passagem qualitativa de uma economia internacionalizada, onde as economias nacionais são as entidades que ainda dominam, para uma economia globalizada, que absorve e rearticula no seu interior as economias nacionais. A transição de uma economia internacional para uma economia global representaria, sob vários aspectos, a verdadeira medida da globalização. Por último, existem os que preferem destacar que a globalização em curso não é um fenômeno natural, conseqüência inevitável da normal evolução do sistema capitalista, mas é fruto de uma política de globalização, ou seja, de uma proposital e deliberada decisão de implantar o modelo econômico global, controlado pelos agentes do mercado, de modo a submeter os Estados e suas instituições nacionais, políticas e jurídicas.
Autores como Ulrich Beck, Joseph Stiglitz e Richard Falk destacam: (i) o fato de que a globalização destrói os fundamentos do Estado nacional e atinge suas áreas centrais de poder; (ii) os impactos da realidade transnacional sobre as estruturas nacionais e locais; (iii) a certeza de que os aspectos mais nocivos da globalização são os que provêm de sua vertente econômica e (iv) a aceitação da tese de que a globalização é um processo irreversível mas não de todo nocivo, podendo existir um lado “bom” a ser estimulado.
Eu concordo com Zolo, quando destaca a globalização como um processo social, não uniforme, de consequências sociais e humanas nem sempre benéficas (muitas delas, aliás, se revelam desastrosas).
Wallerstein, pelos anos setenta do século passado, foi um dos primeiros a confrontar os problemas sociais com a questão da globalização, interpretando a globalização como reflexo direto do capitalismo mundial. Para ele, o capitalismo é o motor da globalização visto que, do ponto de vista de sua compreensão interna, apresenta-se como um sistema econômico necessariamente global, cuja integração se dá, de modo sempre conflituoso, através das relações comerciais e das relações produtivas que determinam as zonas pertencentes ao “centro, semiperiferia e à periferia do sistema-mundo”, havendo uma dominação objetiva e inexorável do núcleo do sistema sobre as demais áreas.
Em Clark, globalização e fragmentação são modelos relativos a processos diversos que compreendem transformações no âmbito social, político, econômico, tecnológico e cultural. Ambas as expressões qualificam mudanças relacionadas com a intensidade ou com o alcance das relações internacionais, mas operam em diversos níveis, exercendo influência sobre a participação política nas organizações internacionais, sobre os processos de integração regional e sobre a coesão dos Estados. Do confronto entre ambas, é improvável que qualquer dessas tendências se sobreponha, sendo mais comum identificá-las em manifestações simultâneas. Ao analisar os acontecimentos históricos do século XX, Clark enxerga a existência concomitante de elementos de integração e de desagregação, mesmo durante as duas grandes guerras. Para ele, o equilíbrio entre essas tendências é instável. Seria, portanto, equivocado conceber a globalização como algo ditado apenas pelo desenvolvimento tecnológico e pelas forças do mercado, sem a presença do Estado. A globalização seria necessariamente um fenômeno que abrange os Estados e produz efeitos no seu interior, cabendo a estes encorajá-la ou contestá-la. Para Clark, assim como para Hirst e Hurrel, os Estados e os governos, especialmente os governos das grandes potências, não são testemunhas passivas da globalização; seriam, antes, os seus agentes promocionais.
Para Ianni, ao lado das forças que operam no sentido da cooperação, da divisão do trabalho social e da integração, existem forças divergentes, fragmentárias e contraditórias. A globalização em curso, ao tempo em que integra e articula, desagrega e tensiona, reproduzindo e acentuando desigualdades e antagonismos nos quais se polarizam grupos, classes, etnias e minorias, além de outros setores da sociedade nacional e da sociedade global. Para Ianni, o ethos mundial cosmopolita surge em um mundo capitalista problemático e contraditório, ou em uma “sociedade global problemática”.
Em Bauman, a globalização teria a marca do destino e da fatalidade. Não é o que desejamos ou esperamos fazer, mas o que está acontecendo a todos, independentemente da vontade de cada um, como produto de iniciativas involuntárias. Faz essa observação tomando por empréstimo um termo proposto por Robertson – glocalização (neologismo formado pela fusão dos termos globalização e localização) – como um processo de nova estratificação em nível mundial. Assim, globalização e localização seriam formas de expressão de uma nova polarização da população mundial em ricos globalizados e pobres localizados; uma relação dual entre poder e impotência, entre privilégios para uns e ausência de direitos para outros. Aquilo que para uns é livre escolha, para outros não passa de destino implacável. Seria o mundo divido em America do Norte, Europa Ocidental e Ásia oriental, do lado da globalização ascendente; e América Latina, Africa e demais localidades, do lado da globalização descendente (Falk).
Os processos de globalização apresentam alguns aspectos positivos e outros profundamente negativos. Não se pode negar que a abertura global dos mercados e a sua expansão sem limites territoriais produz o efeito de aumentar a concorrência e a produtividade, podendo reduzir o desemprego e estimular a circulação da poupança. Para os que enxergam um papel positivo na globalização, seria preciso tensionar as duas globalizações – hegemônica e contra-hegemônica, como destaca Boaventura Santos, dando ênfase a esta última. Seria preciso produzir o fortalecimento da sociedade civil mundial, que sem locus nacional de atuação, pode agir em escala planetária. Estaria aí a ação de organizações com o Green Peace, Emergency, Open Society, entre outras.
No entanto, não se pode ser ingênuo a ponto de pensar que a ação da sociedade civil será capaz de rever completamente esse quadro. A riqueza produzida não será dividida com as pessoas pobres. O que se tem hoje é a difusão de um capitalismo sem trabalho e o paradoxal surgimento de um processo de produção de riqueza global aliado à intensificação de bolsões de pobreza em muitas localidades do globo terrestre, inclusive na periferia das grandes cidades dos países desenvolvidos. Assiste razão a Arrighi quando destaca a ilusão do desenvolvimento, compreendendo que a estrutura do poder econômico mundial dividida em núcleo orgânico, semiperiferia e periferia vai sempre existir porque isso faz parte do modelo capitalista, um servindo de amparo ao outro. Conforme destaca Amartya Sen, o problema do mundo não reside na falta de bens materiais ou de riqueza, mas na ausência de direitos.
Acha que num mundo movido pelas finanças, pelo poder militar e político, se pode acreditar no diálogo intercultural? É retórica acadêmica, é ilusão de óptica ou utopia?
Na verdade, o que acontecendo hoje no mundo não é integração cultural, mas fenômenos complexos e turbulentos de segmentação, hibridismo e deslocamento cultural. Não se pode chamar de integração a completa submissão de uma cultura aos ditames da comunicação publicitária veiculada por instrumentos midiáticos cada vez mais sofisticados. A adoção indiscriminada de culturas alienígenas por regiões cuja cultura nativa vai sendo descartada, ao invés de gerar integração comunitária, produz o efeito inverso, levando à contaminação, à dependência e à dispersão cultural. É preciso denunciar o fundamentalismo da modernidade, em todas as suas manifestações, que somente enxerga os valores das elites políticas e culturais ocidentais. Fora isso, somente consegue identificar barbárie, obscurantismo e tirania. Nesse contexto, a exclusão social é resultado das estruturas atuais de poder político e de mercado. Para que haja diálogo intercultural é preciso que se respeitem as reais condições do diálogo (diálogo se faz com diálogo), rejeitando as propostas de unificação que tomam como modelo o ocidente, baseadas em um universalismo abstrato. Deve-se construir, como defende Zolo, um pluriversalismo tolerante e inclusivo, com respeito à alteridade (à liberdade, à cultura e ao direito de existir do outro). A convivência democrática resulta da aceitação diferente da mera tolerância) e do respeito às diferenças.
Se o norte domina as instituições financeiras internacionais, pode-se afirmar com base na premissa precedente, que as políticas de ajustamentos estruturais são propositadas para destruir as economias precárias para a manutenção do status quo?
Não posso afirmar que seja assim, que haja uma intenção perversa e maniqueísta do mal contra o bem, até porque a intenção está nos seres humanos e não exatamente nos entes coletivos ou nos processos. No entanto, o fato é que o capitalismo ou a economia de mercado, da forma como foi\é concebida, não parece deixar espaço para outra lógica que não seja aquela do lucro, do ganho crescente, o que resulta em inclusão de uma minoria que se apropria, cada uma a seu modo, dos recursos do planeta, em escala mundial. Porém, embora assuma esse pressuposto, é preciso também advogar a existência de um pluralismo nas relações sociais e políticas, especialmente aquelas internacionais, que pode desequilibrar as intenções e promover processos pontuais de reversão da exclusão. A aliança entre as economias da semiperiferia, por exemplo, pela formação do G20, especialmente no momento atual de crise do capitalismo financeiro global, pode servir para atingir a hegemonia e dar protagonismo a outros atores, questionando o centro do poder, embora não venha a ferí-lo de morte. O reconhecimento do pluralismo das fontes de poder político internacional pode ser uma tentativa de contrariar as teses centralistas dos que pretendem controlar a economia mundial, a sociedade mundial e a paz mundial, segundo os valores de exclusão, conformismo e negação de culturas e de valores. Isso não se dá pela estruturação, como querem muitos, de um governo mundial controlado pelas super-potências (dotado de policia internacional e de justiça penal internacional), mas pela afirmação da autonomia dos povos, da pluralidade das civilizações e das culturas, e pelo reconhecimento da complexidade do mundo. Travestidas de moralismo humanitário e cosmopolita – e em nome da universalidade dos direitos humanos e da insuperável racionalidade do direito – as proposições cosmopolitas favorecem estratégias hegemônicas e agressivas de poder global. É o caso, por exemplo, da “guerra humanitária” contra o terror levada a efeito pelos EUA e aliados.
Como se explica a ingenuidade do mundo ao acreditar que o ocidente luta para a paz mundial se em nome do poder econômico mantém fábricas de armas e fortalecem os exércitos?
Hoje, os Estados Unidos dispõem de um arsenal nuclear que ultrapassa todos os outros países do mundo juntos e suas despesas militares são superiores às das dez maiores potências militares do mundo. Para se ter uma idéia do poderio imperial estadunidense, somente depois da última guerra mundial, os EUA atacaram: Guatemala (1954), Líbano (1958), Cuba (1961), Santo Domingo (1965), Grenada (1983), Líbia (1986) Panamá (1989), Somália (1992), Haiti (1994), Bósnia Herzegovina (1995), Kossovo (1999), Iraque (1991 e 1993), Afeganistão (2003–2009). Conforme enfatiza Zolo, os EUA detêm poder absoluto de condicionamento sobre as instituições internacionais - do Conselho de Segurança da ONU ao Fundo Monetário Internacional, ao Banco Mundial e à Organização Mundial do Comércio. O Iraque e o Afeganistão estão ainda sob ocupação militar dos Estados Unidos.
Para Zolo, a efetiva proteção internacional dos direitos deve ser confiada a actores internacionais muito diferentes de uma aliança militar e exige modalidades de intervenção preventivas (e não sucessivas e repressivas), de caráter econômico e civil (não militar), baseadas no diálogo intercultural e não na imposição coercitiva de valores. Estranhamente, afirma Zolo, um permanente estado de guerra global teria como escopo a promoção da paz universal, da paz perpétua (de bases neokantianas). As chamadas “intervenções humanitárias” decididas pelos Estados Unidos e pela OTAN sempre tiveram motivações estratégicas, de caráter político, militar e econômico. O fato é que a intervenção armada tende a agravar o conflito, sempre. Para Zolo, seriam mais úteis as intervenções preventivas que não possuem o caráter militar e violento.
Direito do Petróleo é capaz de regular as operações nesta indústria e garantir estabilidade ambiental?
Nos últimos anos, tem tomado corpo a idéia da intervenção estatal em políticas estruturais de natureza macroeconômica que possam conduzir ao desenvolvimento tecnológico e à promoção industrial dos países. Defende-se que as principais estratégias de reforma do Estado seriam a acumulação (garantia de estabilidade da produção capitalista), a confiança (estabilidade das expectativas dos cidadãos) e a legitimação (hegemonia como entidade política e administrativa). As duas últimas estratégias foram minadas pelo capitalismo globalizado e pelas políticas reformistas empreendidas a partir da década de oitenta, na crise do paradigma da reforma que atingiu as sociedades. As políticas de regulação da energia se inserem nesse contexto. O Estado passou a dividir com as empresas petrolíferas a atuação no setor, muitas vezes transferindo a propriedade do óleo para as exploradoras, reservando a si, por intermédio de organismos setoriais de regulação, as limitações sobre os poderes econômicos privados, o monitoramento da atividade econômica e a tutela dos consumidores.
 No Brasil, a Lei 9478/97 criou a ANP (Agência Nacional de Petróleo, gás natural e biocombustíveis) e introduziu o atual marco regulatório da energia. Com a descoberta do petróleo em águas profundas, o regime de flexibilização do monopólio do petróleo, adotado pela Lei 9.478/97, voltou a ser questionado. Nesse sentido, foi encaminhada ao Presidente da República, no início do mês deste agosto de 2009, uma proposta interministerial instituindo novo marco regulatório para o setor do petróleo, gás natural e biocombustíveis no Brasil. A idéia é instituir dois regimes contratuais de exploração do petróleo: um para os blocos continentais e outro para aqueles situados na área do pré-sal, significando a habilitação jurídica de instrumentos contratuais diferentes. Outros instrumentos de natureza desenvolvimentista estão em foco – caso da criação de um fundo social para a divisão dos recursos financeiros do pré-sal. Para a questão ambiental, não há previsões de mudanças significativas.
No Brasil, a Lei 9478/97 criou a ANP (Agência Nacional de Petróleo, gás natural e biocombustíveis) e introduziu o atual marco regulatório da energia. Com a descoberta do petróleo em águas profundas, o regime de flexibilização do monopólio do petróleo, adotado pela Lei 9.478/97, voltou a ser questionado. Nesse sentido, foi encaminhada ao Presidente da República, no início do mês deste agosto de 2009, uma proposta interministerial instituindo novo marco regulatório para o setor do petróleo, gás natural e biocombustíveis no Brasil. A idéia é instituir dois regimes contratuais de exploração do petróleo: um para os blocos continentais e outro para aqueles situados na área do pré-sal, significando a habilitação jurídica de instrumentos contratuais diferentes. Outros instrumentos de natureza desenvolvimentista estão em foco – caso da criação de um fundo social para a divisão dos recursos financeiros do pré-sal. Para a questão ambiental, não há previsões de mudanças significativas.
Na verdade, nesse contexto, se o Brasil quiser de fato interferir na promoção do desenvolvimento, com sustentabilidade ambiental e social, precisará adotar uma regulação rígida, modelo necessário para que se implante a tão almejada regulação social no setor, com a efetiva redistribuição dos recursos exploratórios das novas bacias no sentido da promoção direcionada do desenvolvimento nacional, sem descurar da efetiva proteção ambiental em bases sustentáveis.
No caso do Brasil, hoje, nem o Direito do Petróleo nem o Direito Ambiental, possuem mecanismos legais para a efetivação dessas políticas. Tudo ainda está em construção, a depender da correlação de forças no Congresso Nacional.
Gostaríamos saber a visão da professora sobre catástrofe do Golfo do México nos EUA, a luz do Direito Ambiental. Será que países que tem uma intensa actividade petrolífera em África: Gabão, Congo, Líbia, Nigéria, Angola etc. estão preparados para um acontecimento desses?
Quero acreditar que no Golfo do México ou em qualquer outro lugar do planeta e o caso do EUA mostra que nenhum país do mundo está preparados para os danos que podem produzir. A perfuração em alto-mar gera poluição da água, do solo e do ar; devasta as espécies marinhas e os ecossistemas; podendo provocar catástrofes imensas. Diz-se que durante a perfuração são liberados hidratos de metano (estruturas semelhantes ao gelo, formadas por água congelada e metano), o que pode, entre outros danos, desencadear o afundamento do leito dos oceanos. A perfuração também atinge o sistema auditivo dos peixes – o salmão, por exemplo, por sua sensibilidade, correria o risco de extinção. Há, ainda o transporte para terra firme. Acidentes, vazamentos e explosões ocorrem corriqueiramente sem que isso seja divulgado.
No caso do Golfo do México, estima-se que o delta já esteja comprometido. Não há máquina ou mistura química milagrosa que o arranque, sem extrair toda a vegetação. Tudo está morrendo: as larvas e ovas de inúmeras espécies – camarões, caranguejos, ostras e peixes.
Quanto tempo demora para que um ecossistema assim devastado seja “restaurado e reconstituído”? Diz-se que o que há no Golfo do México não é vazamento, mas “hemorragia” (John Wathen, militante conservacionista da Aliança Guardiães da Água). Eisso é mais grave do que se pensa: as famílias de pescadores que vivem ali, não vivem só de pescar - são elos de uma cadeia que inclui tradições familiares, cozinha, música, arte, idiomas minoritários ameaçados. Não importa quanto dinheiro se gaste; o fato é que não há dinheiro suficiente para reconstituir uma cultura que tenha perdido as raízes.
Ninguém sabe quanto petróleo está vazando, nem quando parará. Uma conseqüência positiva (se é que existe) desse acidente pode estar na aceleração das pesquisas de fontes de energia renovável, como a energia eólica, No entanto, é fundamental a reabilitação do princípio da precaução como regra no direito ambiental. Esse princípio nos diz que “quando, em uma atividade, há risco de dano ao meio ambiente ou à saúde humana”, é preciso proceder com cuidado, como se o fracasso fosse sempre possível e altamente provável (Revista Carta Capital). O risco não pode ser descartado ou minimizado a priori, mas deve ser responsavelmente encarado, amparado por medidas efetivas de controle preliminar, ou não se levará adiante a atividade. Nesse contexto, é preciso vincular, como direito humanos indissociáveis, a democracia e o desenvolvimento, confiando-se a titularidade de ambos à coletividade (e não ao Estado ou ao mercado). No entanto, ainda teremos muito o que sofrer para que esta nova racionalidade venha a ser efetivamente implementada. Mais uma vez, será preciso trazer danos à própria base capitalista para que as soluções possam se dar, sempre no sentido de menores perdas, numa relação funcional de custo-benefício, bem ao gosto da economia de marcado.
À luz do Direito ao desenvolvimento e do multiculturalismo não acha que os países africanos e outros que não são ocidentais deveriam procurar novas formas de organização política, econômica e social ancorada nas suas tradições?
Historicamente, o conceito de desenvolvimento se apresenta vinculado aos poderes político e econômico. No período do mercantilismo, a idéia de desenvolvimento nacional vinha adstrita ao poder militar do Estado, à posse sobre as colônias e à acumulação de metais preciosos. Com Smith e Ricardo, a representação mais destacada da imponência do Império Britânico passou a se vincular ao poder de sua marinha mercante. Mais adiante, em Marx, encontra-se importante leitura do funcionamento e das falhas do mercado, com desdobramentos sociopolíticos advindos das possibilidades de intervenção da classe operária e de crise do capitalismo. No período do Estado Social, o conceito de desenvolvimento foi identificado, especialmente a partir das políticas keynesianas, às idéias de crescimento do PIB adaptado às novas políticas de distribuição de rendas. Depois da Segunda Guerra, a programação do desenvolvimento entrou nas agendas políticas dos Estados Nacionais, tomando-se como referência os processos socialistas de planificação da economia. Concluiu-se que o desenvolvimento necessitava de efetiva programação quando se tratava do seu potenciamento político e social. Pelos anos setenta do século XX, com a globalização, teorizou-se a respeito da crise de governabilidade do Welfare State, atribuindo-se às disfunções da intervenção estatal (excesso de demandas sociais insatisfeitas e excesso de burocracia na implementação dos serviços públicos, além da sobrecarga fiscal) o problema da falta de legitimidade do Estado na condução das políticas de desenvolvimento.
As reformas administrativas levadas a efeito nos anos oitenta do século passado, conhecidas como reformas de primeira geração, apresentavam uma orientação preponderantemente economicista de desenvolvimento, centrada no crescimento do mercado e nas medidas de ajuste fiscal, que impunham a redução do tamanho do Estado (processos de privatização e desestatização, comandados pelo Consenso de Washington e pelas teorias econômicas elaboradas nas grandes Universidades estadunidenses). A concessão de crédito e a atribuição de credibilidade aos Estados pobres restaram adstritas à implementação de duras políticas de ajuste fiscal. Os processos de transformação da gestão pública foram impregnados pelo ideal do ganho de eficiência e controle.
No entanto, a partir dos últimos anos do século XX, passou-se a acreditar que os desafios sociais em escala global, revelados pela crescente desigualdade e pobreza (emblemáticas de uma globalização predatória), não poderiam ser vencidos pela simples ação reequilibradora dos mercados, mas somente por intermédio do fortalecimento conjugado do Estado (primeiro setor), mercado (segundo setor) e organizações da sociedade civil (terceiro setor). Nesse contexto, saíram de cena os dois modelos de desenvolvimentismo anteriores – o alavancado exclusivamente pelo Estado ou aquele deixado às forças naturais e invisíveis do mercado – substituídos por uma idéia de desenvolvimento plural, resultante da atuação dialogada de atores públicos e privados. O desenvolvimento passa a ser encarado como um direito humano pela Resolução 41/128 da Assembléia Geral da ONU, de dezembro de 1986. Esse documento, entre outros fins, reconheceu o desenvolvimento como “processo econômico, social, cultural e político abrangente, que visa ao constante incremento do bem-estar de toda a população e de todos os indivíduos com base em sua participação ativa, livre e significativa no desenvolvimento e na distribuição justa dos benefícios daí resultantes”.
A concepção de desenvolvimento como um direito passou a integrar a lista histórica dos chamados direitos de terceira geração (remissão a Marshall e Bobbio), refletindo inúmeras aspirações éticas, morais, jurídicas e econômicas que procuram, no conjunto, possibilitar a distribuição equitativa e equilibrada dos benefícios e bens materiais produzidos no mundo, ampliando as possibilidades de fruição desses bens por indivíduos, comunidades e povos.
No entanto, a base de definição do que vem esse “Direito ao Desenvolvimento” é controvertida. Não existe uma definição universal, válida globalmente, sobre o desenvolvimento, uma vez que a diversidade e os padrões heterogêneos de cada cultura acabam por engendrar respostas que dão conta de um desenvolvimento útil ou relevante para determinado povo, nação ou Estado, em proposições nem sempre coincidentes entre si. A divisão equitativa dos recursos no mundo é um tema político por demais complexo e de difícil concretização, que abrange, antes de tudo, uma gama de interesses em conflito e em sobreposição.
As propostas reformistas para o Estado foram defendidas, em 1997, em um Relatório do Banco Mundial sobre o Desenvolvimento, que apontava para uma dupla estratégia: (i) maior concentração da atuação governamental nas atividades públicas cruciais ao desenvolvimento, (ii) ajustamento das funções do Estado à sua capacidade e o revigoramento das instituições públicas, com aumento do poder do Estado na produção de controles regulatórios eficazes, combate à corrupção e às ações arbitrárias, melhoria salarial, maior pressão competitiva e concorrencial em áreas importantes, maior participação e parceria com o terceiro setor etc. A mensagem que subjaz ao inteiro teor do relatório é que cabe ao Estado a função de empreendedor ativo do desenvolvimento e de principal promotor do crescimento econômico.
No entanto, o reconhecimento teórico do desenvolvimento como um direito humano demanda a sua concretização em bases práticas. A sua estrutura necessariamente multicultural requer profunda análise das causas dos problemas sociais, políticos e econômicos de países periféricos, como o Brasil, os países da América Latina, da África e as demais nações do chamado “terceiro mundo”. Nesse contexto, é preciso desmistificar os discursos dominantes do Ocidente, no que tange às funções políticas e ao papel do Estado contemporâneo; às benesses das estruturas globais do mercado; às formas institucionais e reais de ordem e de desordem dos processos de integração regional em curso e a efetivação do novo direito em bases democráticas e pluarais.
Celso Furtado, economista brasileiro e um dos criadores da CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina (criada em 1948), questionou a capacidade da teoria econômica dos países ricos em analisar os problemas estruturais dos países do Terceiro Mundo. Para ele, o desenvolvimento apresentava aspectos econômicos, mas também sociais, culturais e políticos. Não era linear, contínuo e estável, como queriam impor os países centrais, não havendo um caminho natural para o desenvolvimento, que precisava ser necessariamente conduzido por políticas públicas eficazes, ou não passaria de um mito (o canto de sereia dos dominadores). Para Furtado, o desenvolvimento resultava de uma conexão surgida em certas condições históricas entre um processo interno concentrador e um processo externo de dependência. O subdesenvolvimento seria uma projeção da miniaturização, nos países periféricos, de sistemas industriais de países do centro, gerando grupos sociais ascendentes (em cujo interior os novos modelos de consumo se efetivam) e grupos sociais submetidos a níveis mínimos de subsistência, excluídos do consumo moderno. Essas estruturas dualistas foram designadas por Furtado como capitalismo bastardo, que impediam, mais do que outras, o processo de desenvolvimento. Os países afetados pelas dicotomias (um setor urbano-industrial moderno versus um setor rural-agrícola conservador) apresentariam maiores dificuldades para promover o chamado take off do desenvolvimento. Isso ocorreria, em geral, em presença de latifúndios, nas sociedades prejudicadas pelo pouco consumo interno e controladas por uma classe dominante pequena e cativa do capitalismo internacional.
A crítica de Furtado revela-se atual. Não há dúvidas de que os países periféricos precisariam encontrar o seu próprio modelo de desenvovlimento, sem copiar os países centrais, respeitando a sua história e as suas potencialidades, estabelecendo estratégias de rsistência às imposições da economia globalizada. Para isso, precisam de políticas de Estado e políticas de governo condizentes com os propósitos de promoção de um tipo de desenvovimento plural e inclusivo. Tarefa difícil de se alcnaçar em países cuja classe polítca seja dominada por séculos de corrupção e dependência.
Curriculum invejável
Possui graduação em HISTÓRIA e em DIREITO (UFPB), mestrado em Ciências Jurídicas (UFPB), aperfeiçoamento em Direito da Regulação (CEDIPRE - Universidade de Coimbra) e doutorado em Ciências Jurídico-Econômicas (Universidade de Coimbra, Portugal). Realizou estágios doutorais na Università degli Studi di Firenze (Florença, Italia) e no UNIDROIT (Roma). De volta ao Brasil, exerceu a função de coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFPB. Nessa condição, foi convidada pelo Departamento de Estado Americano, por intermédio da Fundação Ford, para viagem de estudos aos Estados Unidos da América, pelo Voluntary Visitor Program. De igual modo, foi convidada pelo British Council para atividade semelhante no Reino Unido (Irlanda do Norte e Inglaterra). É professora associada III do Centro de Ciências Jurídicas da UFPB e docente permanente do PPGCJ-UFPB; exerce atualmente o cargo de vice-diretora do Centro de Ciências Jurídicas da UFPB (gestão 2009-2013); é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq; e membro da diretoria do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito (CONPEDI). Compõe ainda o Comitê Executivo do Consórcio Latinoamericano de Direitos Humanos, que abrange universidades brasileiras e de outros países da América Latina. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direitos Especiais (Econômico e Contratual) e em Direitos Humanos, Econômicos, Sociais e Culturais (DHESC), atuando principalmente nos seguintes temas: globalizaçao, desenvolvimento, regulação estatal, direitos humanos e direito e risco.